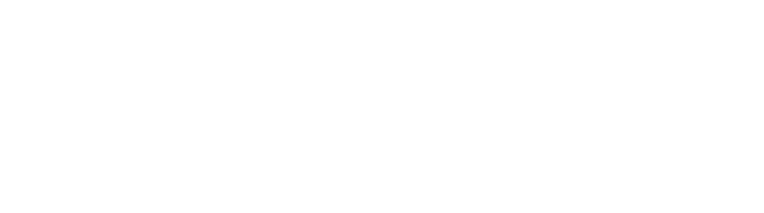Muitos conhecem a história da tragédia grega Édipo Rei, de Sófocles, escrita há mais de dois mil anos, mas ainda muito atual.
Cidadãos de Tebas, é preciso falar direto ao ponto: quem quer que comande os negócios da cidade, com o leme na mão, não pode cochilar. Pois, se tivermos sucesso, a razão é do céu; mas, ao contrário – que isso não aconteça! – uma desgraça pode suceder (…) e esse governante seria celebrado por seus concidadãos com hinos graves e cantos lancinantes.
-Ésquilo. Sete contra Tebas, 1.
Um herói funesto, Édipo, livra a cidade-estado de Tebas de um monstro que a oprimia, a esfinge, desvendando seu enigma (“o que de manhã anda com quatro patas, de tarde com duas e de noite com três?”), e por isso é entronizado no poder, tornando-se rei da cidade.
Qual poderia ser o sentido mais originário desse monstro? Pode ser qualquer inimigo imaginado que torne a vida insuportável. No caso, a esfinge devorava todos os viajantes que não decifravam seu enigma, o que muitos enxergam como uma alusão à angústia de nossa existência efêmera e que nos põem em fuga da totalidade e nos corta a palavra.
Toda época tem seu monstro. Em nosso país, no atual contexto histórico, parece ser a corrupção. Não a corrupção do corpo que se degrada continua e sutilmente a cada dia. Nem muito menos a corrupção que se pratica ao esconder valores do fisco, ao subornar um funcionário público para obter uma vantagem, ao não pagar os 10% do garçom, etc. A corrupção é sempre a do outro, e apenas a do inimigo político é a que conta, e esse é o monstro imaginário do nosso tempo.
Édipo, o protagonista da tragédia, nem por livrar seu país do seu monstro deixa a cidade melhor. Ao contrário, seu governo foi marcado por uma peste que se abateu sobre a cidade. Uma doença que veio dos animais e fez as pessoas soltarem gritos de sofrimento por seus mortos e, em desespero, pedir que mais uma vez seu rei as salve:
“Tu, que és o mais sábio dos homens, reanima esta infeliz cidade, e confirma tua glória! Esta nação, grata pelo serviço que já lhe prestaste, considera-te seu salvador; que teu reinado não nos faça pensar que só fomos salvos por ti, para recair no infortúnio, novamente! Salva de novo a cidade; restitui-nos a tranquilidade, ó Édipo! Se o concurso dos deuses te valeu, outrora, para nos redimir do perigo, mostra, pela segunda vez, que és o mesmo! Visto que desejas continuar no trono, bem melhor será que reines sobre homens, do que numa terra deserta. De que vale uma cidade, de que serve um navio, se no seu interior não existe uma só criatura humana?”
Esse rei funesto não busca médicos ou soluções sanitárias para melhorar as condições de seu povo sob a pandemia, que na ocasião já se espalhava pelo mundo grego. Ele busca uma resposta nos deuses.
Naquele tempo não se falava em nome dos deuses mudos como hoje. Os deuses falavam pelos oráculos diretamente às pessoas e o Rei Édipo é informado de que a peste castigará a cidade até que o homicida de Laio, o Rei anterior à Édipo, seja desvendado e expulso da cidade.

No Brasil temos um protagonista infausto no leme da nação, não um antierói, mas um a-herói, a privação de qualquer característica heroica. O oposto de Édipo que não teve medo em desvelar a verdade de sua origem. De Édipo, diz Hölderlin, talvez fosse o Rei que tivesse um olho demais.
Não era alguém que proclamava a todo instante conhecer a vontade do seu deus e ainda saber a “verdade”, mas alguém corajoso o suficiente e heroico o bastante para descobrir a verdade e poupar seu povo da peste, ainda que se valendo dos deuses ao invés da ciência.
Na Tebas Brasilis do século XXI, o protagonista ocasionalmente levado ao poder, e que, como Jânio Quadros iria “varrer a corrupção” e Fernando Collor iria “acabar com os marajás”, esse tipo de personagem frequente da nossa história possui o poder de derrotar a “corrupção” com sua mera eleição.
Mas esse personagem, tal como Édipo, tinha em sua biografia algo mais do que se tivesse surgido por acaso no meio de uma história. Encerrada uma carreira no exército precocemente, em baixo oficialato, possui histórias que nem o pior roteirista de filme de suspense B conseguiria bolar.
Por quê a sociedade brasileira busca heróis infaustos para salvá-la de seus monstros imaginários? E na busca dessa resposta, podemos dizer que a sociedade brasileira é culpada pela escolha de protagonistas dessa natureza?
O título desse artigo se apropriou de uma “tradução traidora”, como lembra Umberto Eco, do famoso livro de Karl Jaspers “Die Schuldfrage” (“A questão da culpa”), que no artesanato livre e cheio de significados das traduções americanas de sua obra nos legaram uma particularizada “A culpabilidade alemã”.
Nesse livro Jaspers colocou em voga, já em 1946, um ano após o fim da II Guerra Mundial, a questão da responsabilidade do povo alemão pelos barbaridades cometidas pelos nazistas e que custaram a vida de milhões de pessoas.
Para Jaspers, a inimaginável espiral de violência nazista, que chegou ao ápice do horror desviando recursos de guerra para montar uma industrialização do extermínio de milhões de seres humanos, o apoio maciço da população alemã ao regime nacional-socialista e a ausência de uma resistência interna ao regime totalitário acarretavam uma dose de culpa muito maior sobre toda a sociedade do que o silêncio do pós guerra poderia tolerar: não foi um bando de lunáticos assassinos que assumiu o poder e conduziu a pátria de Goethe, Schiller, Kant, Nietzsche à ruína desonrosa e que civilizados tivessem, mais uma vez, sido tão selvagens.
Em graus diversos e sob formas diversas, toda a sociedade alemã foi culpada dos horrores do nazismo e somente pela purgação dessa culpa, pela adoção de ações solidárias, poderia ser alterada a “essência” da sociedade alemã.
As categorias de culpa que ele analisa, contudo, são irrelevantes para nosso tema. Como toda categoria, representa um modelo a ser contestado, e, portanto, não representa um raciocínio forte. É quase uma opinião abalizada e só.
Jaspers insere-se dentro da mais clássica tradição filosófica, ainda que absorvendo as observações de Nietzsche e Heidegger, apresenta nesse trabalho, inovador por colocar a questão da discussão da responsabilidade, num campo muito próximo das ideias religiosas da culpa originária e da necessidade de sua purgação.
Mais do que a culpa de nossos pais, uma carga abraâmica típica do pensamento metafísico, devemos reconhecer que “somos os mesmos e vivemos como nossos pais” (Belchior, 1976).
Não somos culpados pelas escolhas nem deles, nem as da maioria. Somos o que nossos pais foram, sem mais, nem menos.
A ingenuidade de uma atribuição de culpa generalizada ignora os inúmeros fatores que constituem a própria sociedade moderna: baseada em um sistema econômico injusto, construída sobre a repressão sexual, todas as suas instituições dirigem-se para o controle e a regulação dos corpos.
Mas não são todas essas explicações mais categorias do que aquelas trazidas por Jaspers e suas múltiplas culpas? Há aqui uma explicação efetiva? Ou antes: a busca por uma explicação é uma busca mal endereçada?
Voltemos à tragédia. No Édipo Rei, ao constatar que havia sido ele Édipo o assassino do próprio pai, Laio, e então casado com a própria mãe, Jocasta, arranca seus olhos das órbitas, e se auto-exila da cidade. Não esperou castigo algum.
Seus olhos não os quis mais, vez que não lhe haviam permitido ver sua desmedida, do “milagre” do filho de pastores tornar-se Rei da cidade, destruindo o monstro imaginário que a atemorizava quando ninguém mais o tinha conseguido, e nem percebido que pelo assassinato hediondo que sabia ter cometido tinha se tornado rei, ainda que não quisesse ver que era o parricídio. Cego não mais testemunharia as desgraças que causou.
O desfecho da tragédia não pode nos deixar apenas com a sensação de ter assistido a uma peça que atravessa séculos com imensa atualidade. Como diz Hölderlin, “se o teatro encena algo assim, isso vem da vida”, e a vida está a nos ensinar porque escolhemos governantes monstruosos que enchem nossas vidas de infortúnios.
Talvez nos seja necessário ir além de Édipo no castigo que se auto-inflingiu, e recolocar esses olhos expurgados de novo nas suas órbitas para que, de forma muito clara, muito mais clara do que antes, por esses olhos que enxergavam demais possamos ver de forma inédita as nossas escolhas.