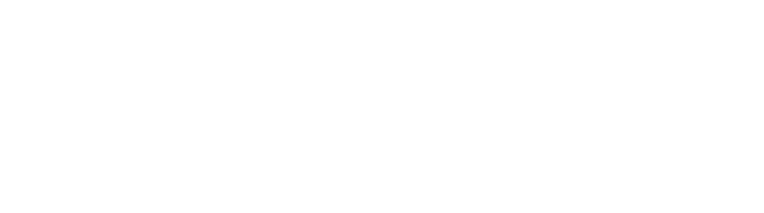SENTENÇA TIPO "A"
PROCESSO: 0004670-89.2014.4.01.3601
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria)
POLO PASSIVO:UNIÃO FEDERAL e outros
SENTENÇA (TIPO A) I
Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da União e do Incra. Essa demanda tem por objeto a identificação, o reconhecimento, a delimitação, demarcação e titulação da Terra Quilombola da chamada Comunidade da Bocaína (que está localizada no município de Porto Estrela, neste Estado do Mato Grosso).
Em síntese, o Ministério Público Federal alega que a União e o Incra estão em mora administrativa, uma vez que, a despeito do lapso temporal entre a vigência da Constituição Brasileira de 1988 e a data atual, nenhum ação administrativa foi efetivamente realizada; e isso, em ordem da conferir efetivo cumprimento ao quanto disposto no art. 68 do ADCT e no Decreto 4887/2003.
União e Incra apresentaram peças defensivas (contestação) alegando questões processuais e de direito. As questões de direito arguidas são referentes ao princípio da separação dos poderes, ao impedimento da judicialização de políticas públicas, a existência de restrições orçamentárias (reserva do possível), e outros problemas de organização administrativa.
Em sede de decisão judicial (id 290544365, pag 214) o magistrado responsável indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o qual fora deduzido pelo Ministério Público Federal; sendo certo que, em momento subsequente, o órgão ministerial manejou o recurso de Agravo de Instrumento.
Mais adiante, em sede de decisão judicial (id 290544364, pag 313), as questões processuais, tal como arguidas pelas requeridas, foram rejeitadas pelo magistrado responsável; e, em relação a qual, não foi apresentado recurso. Por consequência, transformando-se em questões preclusas.
Seguiu-se, então, a instrução processual; bem como, a apresentação de razões finais pelas partes.
Pois bem. Ao fim da instrução processual, as partes entabularam um acordo. Esse acordo materializou um cronograma de cumprimento do Decreto 4887/2003 (ato normativo que operacionaliza o art. 68 do ADCT), no prazo de 24 meses.
Contudo, tais prazos não foram devidamente cumpridos. A esse respeito, os entes públicos apresentaram novas alegações, com a finalidade de justificar o descumprimento do acordo celebrado em audiência; e, em sequência, postularam a permanência do acordo celebrado nestes autos.
Por sua vez, o Ministério Público Federal requer o julgamento do feito, ante o descumprimento do acordo celebrado em audiência, uma vez que o contínuo descumprimento do art. 68 do ADCT e do Decreto 4887/2003 não pode ser legalmente justificado.
É o relatório.
II
A Constituição Brasileira de 1988 é fruto do processo de democratização da sociedade e do Estado Brasileiro (após o mais longevo regime militar da América Latina). É a chamada “Constituição Cidadã”. Contudo, remeter à fórmula da “Constituição Cidadã”, sem levar em consideração o contexto histórico de sua aprovação, é fórmula vazia. Sempre é bom lembrar as palavras de Ulysses Guimarães no sentido de que a Assembleia Constituinte de 1988 tem ódio e nojo ao fenômeno ditatorial (e, pois, seus processos de violência). Ou seja, o legislador constitucional teve o desejo de, efetivamente, alterar as práticas autoritárias e violentas que tanto marcaram nossa história.
Em tempos de pandemia e de americanização de debate constitucional brasileiro, somente, podemos chegar à conclusão que o ódio e o noje à ditadura militar de 1964-1985 traduz o vibrante originalismo da carta constitucional brasileira.
O constituinte originário dotou o texto constitucional com normas jurídicas protetivas e políticas afirmativas em relação aos grupos sociais que, historicamente, foram objeto de escravização, violência, exploração econômica, marginalização e dominação política.
É preciso ressaltar que as classes dirigentes brasileiras, antes do texto de 1988, sempre fizeram a opção de apagar de nossa memória coletiva o fato de que a constituição deste país foi baseada em processos violentíssimos, sendo que o principal deles (o regime escravista) durou até a data de 1888. Para se lograr êxito em tal intento, forjou-se mitos e eufemismos sobre a existência de uma democracia racial, o caráter pacífico e harmônico de nossa gente. Ora, nada melhor que do apagar o passado, como forma de evitar demandas presentes e futuras.
A respeito do lusotropialismo de Gilbero Freyre, temos a lição de Abdias Nascimento1: “Um dos exemplos mais convincentes se encontra no internacionalmente famoso historiador Gilberto Freyre, fundador do chamado lusotropicalismo, a ideologia que tão efetivos serviços prestou ao colonialismo português. (…) Sua entusiástica glorificação da civilização tropical portuguesa depende em grande parte da teoria da miscigenação, cultural e física, entre negros, índios e brancos, cuja prática revelaria uma sabedoria única, espécie de vocação específica do português”. E arremata citando o grande sociólogo Florestan Fernandes: “Todos os que leram Gilberto Freyre sabem qual foi a dupla interação (entre senhores e escravos), que se estabeleceu nas duas direções. Todavia, em nenhum momento essas influências recíprocas mudaram o sentido do processo social. O negro permaneceu sempre condenado a um mundo que não se organizou para tratá-lo como ser humano e como igual”.
A par disso, o fato é que as instituições jurídico-políticas deste país, ao longo da história, sempre atuaram no sentido de legitimar os processos de violência que fundaram a sociedade brasileira.
A respeito da manutenção da escravidão, sob a vigência de um texto constitucional liberal (Constituição de 1824), nos ensina José Afonso da Silva2: “Seguramente, a Constituição do Império do Brasil de 1824, que vigorou até 15.11.1889, continha uma das mais avançadas declarações dos direitos humanos do século XIX. Não se pode, porém, ocultar o fato de que direitos reconhecidos e garantidos só serviam à elite aristocrática que dominava o regime. Como bem explica Emília Viotti da Costa: Para estes homens, educados à europeia, representantes de categorias dominantes, a propriedade, a liberdade, a segurança, garantidas pela Constituição eram reais. Não lhes importava se a maioria da Nação se constituía de uma massa humana para a qual os preceitos constitucionais não tinham a menor eficácia. Afirmava-se a liberdade e a igualdade de todos perante a lei, mas a maioria da população permanecia escrava”. Garantia-se o direito de propriedade, mas 19/20 da população, segundo calculava Tollenare, quando não era escrava, compunha-se de “moradores” vivendo nas fazendas em terras alheias, podendo mandados embora a qualquer hora. Garantia-se a segurança individual, mas podia-se matar impunemente um homem. Afirmava-se a liberdade de pensamento e de expressão, mas não foram raros os que como Davi Pamplona ou Líbero Badaró pagaram caro por ela. Enquanto o texto da lei garantia a independência da Justiça, ela se transformava num instrumento dos grandes proprietários. Aboliram-se as torturas, mas, nas senzalas, os troncos, os anjinhos, os açoites, as gargalheiras, continuavam a ser usados, e o senhor era o supremo juiz decidindo da vida e da morte dos homens. A fachada liberal construída pela elite europeizada ocultava a miséria e a escravidão dos habitantes do País.
Logo, a base do Brasil é o autoritarismo (e cinismo) das instituições jurídico-políticas.
Nesse contexto, a existência de legislação progressista era solenemente ignorada pelas autoridades; e isso, em ordem de manter o sistema escravista vigente. Estou a falar sobre a Lei de 1831, isto é, o diploma legislativo que vedou o tráfico de escravizados. Contudo, no mundo real, o tráfico de escravizados estava em plena vigor, e isso, em razão do aumento das plantações de café. O trabalho compulsório era necessário aos aristocratas da vez.
Nesse sentido, mais uma vez, José Afonso da Silva (aqui fazendo menção a Joaquim Nabuco) 3: “Vale dizer que, diante do disposto nessa lei, todos os escravos que entraram no território e nos portos nacionais após 7.11.1831 se tornaram homens livres; e, assim, por consequência, também seus descendentes. A propósito, disse Joaquim Nabuco: Como se sabe, essa leu nunca foi posta em execução, porque o Governo Brasileiro não podia lutar com os traficantes; mas nem por isso deixa ela de ser a carta da liberdade de todos os importados depois de sua data. É sabido que depois dessa lei entraram no Brasil cerca de um milhão e meio de escravos, e nessa condição continuaram até a superveniência da Lei Áurea. E arremata: O desprezo à lei neste País é, como se vê, uma triste e escandalosa tradição.”
Vale dizer que a luta jurídica pela liberdade dos africanos trazidos indevidamente ao Brasil era feita pelo grande Luís Gama com base na legislação de 1831. A respeito a grande historiadora Emília Viotti da Costa4: “Grupos de pessoas, liderados por um ex-escravo Luís Gama, empenhavam-se, já nos anos 1870, em promover a libertação, através de uma campanha jurídica, apoiada na lei de 1831, que declarava livre todos os escravos entrados no país a partir daquela data”.
O fato é que o tráfico internacional de escravizados somente se encerrou nos anos de 1850, seguidos de intenso tráfico interno, e término formal do regime escravista em 1888. Isto é, a omissão no cumprimento da Lei de 1831 era a regra.
A digressão ao século 19 demonstra claramente que as normas jurídicas que contradizem interesses econômicos e políticos das classes dirigentes brasileiras, no mais das vezes, têm sua eficácia anulada, mormente pela omissão estatal. Tanto que a expressão popular “lei para inglês ver” é referente à Legislação de 1831, porque o tráfico de escravizados passou a ser combatido
pelo ingleses.
Durante o século 20, a sociedade brasileira sofreu, com regimes autoritários ou autocráticos (como a República Velha), nos quais processos de violências continuaram a fazer parte de nossa realidade, notadamente naquilo que tange à acumulação patrimonial.
Como visto, falsos mitos estão na base de nossas formulações autoritárias. Um deles é a chamada “Revolução de 1964” ou “Movimento de 1964”. Friso quanto ao ponto que a palavra movimento é usada pelos próprios Atos Institucionais, isto é, pelos atos normativos que indevidamente colocaram fim ao regime democrático de 1946-1964. Isto é, é o autoritarismo (e o cinismo) jurídico-político que se apresentou novamente em nossa realidade concreta, com o fito de apagar uma ruptura democrática e legitimá-la por ator normativos. Pois bem.
Nessa linha, cabe enfatizar que nosso padrão de autoritarismo (e cinismo) jurídico-político é confirmado pelo regime ditatorial, uma vez que diversos juristas apoiaram e participaram dele (Miguel Reale, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Alfredo Buzaid, Hely Lopes Meirelles, etc).
A respeito da política agrária do Ditadura Militar de 1964-1985, fala Caio Prado Junior5: “Haja vista o que vem ocorrendo, favorecido e mesmo estimulado sem nenhum segredo pela atual política agrária do regime vigorante, haja vista esta partilha desordenada e destruidora da natureza – mas altamente promissora para os seus felizes beneficiários, estes novos “colonizadores hoje empresários” -, partilha das terras virgens e ainda desocupadas (salvo os índios que sumariamente se expulsam) do norte de Goiás e Mato Grosso, e sobretudo na Amazônia”.
A acumulação violenta de terras, inclusive, no Estado do Mato Grosso é reconhecida pelo Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade (Vol. 02). Vejamos: “Ainda que as alianças que sustentaram o projeto de ocupação do interior do país durante o Governo Vargas (a chamada Marcha para o Oeste, voltada para a ocupação de terras de Mato Grosso e Goías) não coincidisse exatamente com as dos grupos envolvidos nos projeto de integração nacional dos governos Médice e Geisel, em ambos os casos as terras do Brasil foram distribuídas entre empresários interessados em tocar empresas agropecuárias ou projetos extrativistas como se ali não existissem moradores – o que vale tanto para os camponeses quanto para os povos indígenas. Tal posição do Estado diante dos conflitos pela terra, sempre em apoio aos grileiros e grandes proprietários, criminalizando sistematicamente as tentativas de resistência de posseiros, estende-se até o final período das investigações atribuídas à CNV: o ano da Constituição Democrática de 1988. (…)
Quer dizer, a expansão da fronteira agrícola, durante do regime militar de 1964-1985, ocorreu por meio da omissão estatal diante da violência de particulares (grileiros e grandes proprietários) contra grupos vulneráveis e por meio de ação jurídica, em ordem de legitimar o processo violento de acumulação de propriedade.
Da história das instituições jurídico-políticas dos séculos 19 e 20, depreende-se que o Brasil possui uma padrão específico de violação de direitos humanos, qual seja, cínica omissão estatal diante de violência pratica por particulares em desfavor dos grupos indígenas e africanos, notadamente quando se trata de avanço de fronteiras agrícolas, destruição ambiental, e exploração econômica e dominação política de grupos vulneráveis.
Dito isso, e tendo em consideração que o método histórico de interpretação é admitido pelo mundo do direito; entendo que o texto constitucional de 1988 tenta remediar tais problemas, uma vez que reconhece a autonomia da cultura indígena e afro-brasileira; reconhece que o processo civilizatório brasileiro vai muito além da presença européia; e confere proteção jurídica a tais interesses (inclusive, garante ensino de tais culturas em nossos sistemas educacionais).
E justamente a preservação da cultura nacional (notadamente a de matriz africana) e da memória dos processos sociais brasileiros (notadamente, o regime escravista), se dá pela preservação dos territórios quilombolas e seus remanescentes.
Outro não é o sentido do art. 68 do ADCT.
A respeito da aplicação do citado dispositivo constitucional temos a ADI 3239. O julgamento do STF faz menção aos casos Moiwana vs Suriname e Saramaka vs Suriname, que foram julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
A meu ver, é importante verificar qual o padrão de violência contra comunidades tradicionais (indígenas ou quilombolas) que temos registrado na América Latina e verificar se, no caso concreto, temos situação semelhantes.
Com efeito, o caso Moiwana vs Suriname é referente ao período de regime militar no Suriname; e o caso Saramaka vs Suriname tem relação com a construção de uma UHE naquele país, o que causou a situação de uma povo transmigratório.
Bem, o fato é que o padrão de violência de direitos humanos, no espaço geográfico latino, em relação às comunidades tradicionais (indígenas ou quilombolas), tem relação com a expansão das fronteiras agrícolas e das atividades econômicas. Ou seja, uma espécie de “colonialismo interno”.
A respeito do tema Edwin Williamson6: “Na verdade, o colonialismo interno do crioulo hispânico sobre o índio agravou-se após a Independência, pois as constituições liberais das novas repúblicas não reconheciam a identidade distinta dos povos indígenas e, em nome da igualdade perante a lei, os direitos estatutários que protegiam as comunidades indígenas no tempo do império espanhol foram abolidos, permitindo que crioulos poderosos manipulassem o mercado livre e privassem os índios de suas melhores terras”.
É uma lição perfeitamente aplicável ao Brasil, conforme evidências colhidas pela CNV, notadamente em relação ao processo da “marcha para o oeste”. Nos dias que correm, a destruição dos ecossistemas brasileiros, em ordem de permitir o avanço das fronteiras agrícolas, é processo semelhantes; assim servindo como evidência de nosso colonialismo interno.
O colonialismo interno é oposto à territorialidade das comunidades tradicionais (indígenas e quilombolas). O STF na ADI 3229 indica, de modo claro, que as demandas das comunidades devem ter alguma vinculação territorial para obter proteção jurídica da Constituição Brasileira de 1988 e da Convenção Interamericana de Direitos Humanos.
Pois bem.
No caso concreto, a territorialidade da Comunidade Quilombola da Bocaína é perfeitamente comprovada nos autos. O Estado do Mato Grosso criou, no ano de 1953, por maio da Lei 636/1953, o Patrimônio da Povoação da Bocaína, no município de Barro do Bugres (MT), com área de 5.000 hectares. Sendo que 1500 hectares seriam destinados para a Comunidade Tradicional citada e o restante distribuído para lavradores, no importe de 50 hectares.
Deve-se observar que no ano de 1953 estávamos sob a vigência da Constituição de 1946 e em pleno regime democrático. De modo que a legislação reflete preocupação com as comunidades tradicionais e com a distribuição de terras para lavrador, em ordem de formarmos uma sociedade de classes médias, com melhor distribuição de propriedade e renda. Por fim, o Título Definitiva da Área foi passar para a Municipalidade de Barro do Bugres.
Em novembro de 1960 uma área chamada “Cafundó” foi repassada pelo Estado do Mato Grosso para Mario da Silva Lima, com área de 2551 hectares. Então, Mario da Silva Lima vendeu o lote para Joaquim da Silva Lima.
Aparentemente, existindo duplicidade de títulos de propriedade sobre a mesma área.
Nesse contexto, os arquivos históricos da Câmara Municipal de Barra do Bugres indicam que, em abril de 1968 (já durante o regime militar de 1964-1985), Joaquim da Silva Lima fala para a Câmara Municipal acerca da possível sobreposição de área entre os títulos definitivos; e que, no lugar indicado, já existiam diversos posseiros no local.
Seguiu-se que Joaquim da Silva Lima e José Carlos Ferreira empreenderam esforços para promover a retirada violenta da Comunidade da Bocaína do local.
Foram juntado aos autos diversas declarações acerca da retirada violenta dos quilombolas da área que lhes era garantida pela legislação do Estado de Mato Grosso.
No ID 290555889 constam diversas declarações prestadas perante a Promotoria de Justiça de Barra do Bugres. As diversas pessoas ouvidas (Pedro José da Silva, Rosa Maria dos Santos, Odir Ferreira da Silva, Elenci Ferreira dos Santos) e seus depoimentos relatam a retirada forçada da Comunidade Bocaína de suas terras.
Em síntese, José Carlos Ferreira (que teria adquirido os título de José Ferreira Lima), com a ajuda dos ex-prefeitos da cidade (Flavio Farias e José Turchem), somado ao cartorário da cidade passaram a adotar ações fraudulentas e violentas com a finalidade de expulsar a comunidade do local. Todas as pessoas fazem o mesmo relato, isto é, de que jagunços (usando de violência e terrorismo), em nome de José Carlos Ferreira, os teriam expulsados no local.
Tormentosa é a declaração de Maria Aparecida Alves Ferreira. De acordo com seu depoimento ela vivia em União Estável como Zé Turchem (ex-prefeito). E, por conta disso, presenciou diversas conversas no sentido de que José Carlos Ferreira expulsou os moradores da Comunidade da Bocaína, por meios violentos; e isso, com a ajuda da municipalidade e do cartorário extrajudicial da cidade para conferir legitimidade jurídica à tomada violenta de propriedade.
A dinâmica dos fatos foi confirmada em sede judicial, isto é, pelo depoimento de Thais Aparecida Coelho dos Santos (que fez estudo antropológico sobre a questão da Comunidade da Bocaína), Suzana Campos de Laura, Manoel Izaque Ferreira da Cruz, e Pedro José da Silva.
Dito isso, entendo que o interesse dos Quilombolas deve ser protegido pelo Poder Judiciário, porque comprovada uma situação de grave violação de direitos humanos que ocorreu durante o regime militar brasileiro.
Primeiro, na hipótese de duplicidade de títulos sobre a mesma área, deve prevalecer aquele que possui fundamento legal. Ora, na visão de Hans Kelsen, como sabido, o sistema jurídico é construído de forma escalonada; de modo que, os atos jurídicos inferiores devem encontrar fundamento formal nos atos superiores.
A par disso, sabe-se que a ação estatal é regida pelo princípio da legalidade (tal princípio não foi esquecido por nenhuma constituição brasileira). Isso significa dizer que tais ações estatais, para serem consideradas jurídicas, devem estar em conformidade aos ditames legais. Lado outro, devemos evitar o positivismo de Pindorama, onde os atos inferiores conformam a legislação superior, quando na verdade o contrário é o correto.
À vista disso, fica claro consignar que o título definitivo cujo beneficiário foi Mário da Silva Lima
não tem fundamento legal que lhe confira suporte de validade; e portanto, o citado título é nulo de pleno direito. O fundamento é singelo: tal titulo de propriedade (isto é, o destamento do patrimônio público para o particular), quando de sua edição, não gozava de legislação que o autorizasse.
O único titulo de propriedade que, de fato, possui validade jurídica foi o conferido para a Comunidade Bocaína, porque tem fundamento da Lei Estadual n. 636/1953 (até hoje em vigor).
Segundo, dada a descrição do conflito fundiário, penso que ficou comprovado que esta demanda representa mais uma das graves violações de direitos humanos que ocorreram durante o regime militar de 1965-1984, notadamente quanto ao processo de avanço e consolidação de grandes propriedades agrícolas na Marcha para o Oeste, nos termos em que relatados pela Comissão Nacional da Verdade; uma vez que as ações violentas e jurídicas ocorreram a partir de 1968.
A história brasileira comprova, sem qualquer sombra de dúvida, que nossos processos de violência tendem a ser legitimadas pelas instituições jurídico-políticas, por ação e omissão.
Nosso padrão de violência foi confirmado no caso concreto. Ora, ficou claro que as ações violentas tiveram o apoio de nossas instituições jurídico-políticas (municipalidade e sistema cartorário), em ordem de retirar os quilombolas de suas terras; e, assim, emprestando-lhe aparência de legitimidade e legalidade.
Em vista disso, este magistrado reconhece que a Comunidade Bocaína foi retirada violentamente de suas terras, cuja propriedade e posse era-lhe garantidas por lei; e, assim, fica comprovado o vínculo territorial, nos termos em que exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pelas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Somada a isso, não existe dúvida quanto ao caráter quilombola da comunidade tradicional, uma vez que consta dos autos o certificado expedido pela Fundação Palmares; bem como, as testemunhas trazidas aos autos, em seus depoimentos confirmaram tal característica.
Quarto, a mora administrativa do INCRA também ficou comprovada nos autos.
União e Incra aduzem, em suas peças processuais, que esta demanda representa indevida intervenção do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo. Nada mais equivocado, a meu ver.
As políticas públicas em relação à esfera cultural brasileira; bem como, a proteção jurídica às comunidades quilombolas é tema de direito positivo.
Creio que não resta dúvida que o artigos 215 e seguintes da Constituição Brasileira e, especialmente, o art. 68 do ADCT fazem parte de nossos estatutos jurídicos; e por isso, devem ter eficácia social.
Como as políticas públicas estão positivadas em nossos estatutos jurídicos, a proposição de que o Poder Judiciário está violando norma de competência (isto é, atuando onde competência do Poder Executivo), é evidentemente errada. Uma vez que o Poder Judiciário não está criando políticas públicas, mas sim realizando o controle de sua eficácia social, pelo Poder Executivo.
Deve-se deixar claro que o ativismo judicial consiste na atividade positiva do Poder Judiciário, ou seja, conduta que traduz a construção de política pública que não está presente nos estatutos constitucionais e legais, e que vai muito além de atividade judicial de legislador negativo (a qual consiste em declarar a invalidade de atos legislativos).
A aplicação da Constituição Brasileira e da leis, a partir do reconhecimento judicial da mora
estatal no cumprimento de obrigações constitucionais não traduz uma atividade de criação de políticas públicas pelo Poder Judiciário ao arrepio dos estatutos jurídicos.
Nessa senda, não se pode deixar que a expressão “ativismo judicial” se torne um palavrão. Acredito que tal tipo de procedimento tem a finalidade de interditar a atuação do Poder Judiciário quando chamado a fazer o controle de eficácia de determinadas políticas públicas (de natureza constitucional e legal), na hipótese em que o Poder Executivo não consegue colocá-las em prática, isto é, não consegue empreender ações executivas com o fito de conferir efetividade ao texto constitucional.
A se levar tal argumentação ao absurdo, chegaremos ao seguintes resultado: em toda e qualquer hipótese em que o Poder Executivo não cumpre com suas obrigações constitucionais, fica o Poder Judiciário desautorizado em realizar intervenções legítimas porque estaria invadindo a competência do Poder Executivo. Ou seja, a condenação generalizada “ativismo judicial” tem o condão de transformar o Poder Judiciário no “avestruz” institucional, porque o Poder Judiciário se torna o garantidor das omissões do Poder Executivo em sede direitos fundamentais. Isso está muito além de qualquer sentido de autocontenção do Poder Judiciário diante dos demais poderes de estado.
Muito bem.
A questão posta no autos consiste unicamente no reconhecimento da ineficácia de uma política pública que consta em nossos estatutos jurídicos, mas que não é colocada em prática pelo Poder Executivo Federal; assim revelando indevida mora administrativa.
A mora administrativa ficou comprovada nos autos. Vejamos.
A Constituição Brasileira entrou em vigor no ano de 1988 e até a data de hoje, janeiro de 2021, os artigos 215 e 68 do ADCT não foram colocados em prática no que tange à Comunidade da Bocaína; ainda que não exista, nem entre os servidores do INCRA, dúvida séria quanto à característica quilombola da comunidade tradicional.
Saliento que o próprio INCRA realizou acordo nesses autos no sentido de terminar o procedimento de materialização do RTID no prazo de 24 meses, o que não foi cumprido pela autarquia (que é responsável pela execução do procedimento).
Quanto ao ponto, a Administração Pública salienta que, nós últimos anos, as disposições orçamentárias referente às ações de reconhecimento de comunidades quilombolas vem diminuindo, fato esse que impossibilita a execução das obrigações constitucionais.
Esse fato salienta a competência contra majoritária do Poder Judiciário. Isto é, cabe ao Poder Judiciário zelar e proteger os ditames constitucionais, de ataques promovidos pelo Poder Executivo e Poder Legislativo. E, uma das melhores do Poder Executivo tornar o texto constitucional sem efetividade, passa por uma estratégia de subfinanciamento dos direitos fundamentais. O que, dado os dados apresentados, é o que está ocorrendo no caso concreto.
Os membros da Comunidade estão em situação de vulnerabilidade.
Tanto é que o próprio servidor do Incra que foi chamado a depor em audiência judicial reconheceu que, dentre as diversas comunidades quilombolas neste Estado Mato Grosso, a Comunidade da Bocaima é mais vulnerável de todas.
Vale ressaltar a citada comunidade tradicional encontra-se comprovadamente em estado de “transmigração”. Explico: nos julgados da CIDH foi ventilado o conceito de “transmigração”. Ou seja, comunidades tradicionais que, quando expulsas de suas terras, não conseguem se alojar
em outro lugar e ficam vagando como nômades. É o que ocorre no caso em apreço, uma vez que, existem pessoas inclusive morando perto de rodovias. O que é uma situação inaceitável.
Ficou comprovado nos autos que a Comunidade da Bocaína está espalhada pelo Estado do Mato Grosso, inclusive vivendo na beira das rodovias, isto é, em estado de “transmigração”.
Por todo o exposto, reconheço o estado de mora, do INCRA e UNIÃO, quanto ao cumprimento do disposto nos artigos 215 e seguintes e art. 68 do ADCT, ambos da Constituição da República Federal do Brasil de 1988.
Tutela de urgência -
As condições legais para a concessão de tutela de urgência estão estabelecidas no art. 300 do CPC. A tutela de urgência pode ser concedida se presentes a plausibilidade do direito invocado, estado de perigo de dano ao interesse juridicamente protegido ou ao resultado útil do processo, e provimento judicial faticamente reversível.
A plausibilidade do direito está perfeitamente delineada nesta sentença.
A situação de risco é evidente. O estado de mora, perpetrada pela União e Incra, por vários anos tem o conteúdo de afetar terrivelmente a Comunidade Bocaína, cujos membros, hoje, vivem em situação de total vulnerabilidade. Por óbvio que essa situação pode gerar a extinção da vida comunitária da comunidade; e, portanto, de todos os bens jurídicos que a Constituição Brasileira visa proteger.
Logo, a concessão de tutela de urgência se justifica. Vale dizer que a concessão de tutela de urgência, na sentença, tem o efeito processual de dotar o subsequente recurso de apelação de efeito devolutivo, apenas. Desta forma autorizando o imediato cumprimento desta sentença.
Tutela específica da obrigação de fazer -
A criação do instituto da tutela específica objetivou fazer com que as tutelas processuais tivessem resultados práticos, isto é, conferir efetivamente aos interessados o bem jurídico disputado em juízo; e isso, notadamente quanto as obrigações legais ou contratuais tem por objeto um bem não-monetário.
A presente causa é um exemplo. O objeto processual é no sentido do Poder Judiciário fazer com que a União e INCRA cumpram com suas obrigações constitucionais e legais; assim, materializando os estudos necessário ao reconhecimento da Comunidade Quilombola da Bocaína.
Sabe-se que o Decreto 4887/2003 institui diversas fases na execução no RTID, a saber: identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação de terras; sendo certo que que cada fase existem processos específicos a serem respeitados.
Sendo assim, e visando alcançar o resultado prático (que é o que importa), determino a instauração de autos apartados e vista ao Ministério Público para que requeira o que entender necessário à execução deste julgado.
III
Frente ao exposto:
– CONCEDO tutela de urgência para que a União e INCRA deem imediato início ao processo de demarcação da Terra Quilombola da Comunidade Bocaína.
– DETERMINO a formação de autos separados e CONCEDO imediata vista ao MPF para que indique os meios, prazos e multas cominatórias a serem aplicadas ao caso concreto para fins de cumprimento de sentença;
– No mérito, CONDENO a União e o INCRA em obrigação de fazer, em ordem de executar o processo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação de terras da Comunidade Quilombola da Bocaína;
– CONDENO a União e o INCRA, pro rata, em custas e honorários advocatícios no valor de 08% do valor da causa.
P.R.I.C
Cáceres (MT), data em que assinada eletronicamente.
1NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. 3º edição: São Paulo; Perspectiva, 2016, pag. 49.
2SILVA, Jose Afonso da. O constitucionalismo brasileiro. Malheiros, 2011, pag, 169 e 170. 3Idem, pag. 173
4COSTA, Emília Viotti da. Da senzala à colônia. 5º edição. São Paulo: Editora Unesp, 2010, pag 400.
5PRADO JUNIOR, Caio. A revolução brasileira; A questão agrária no Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 2014, pag. 284.
6WILLIAN, Edwin. História da América Latina. Portugal. Edições 70. 2012, pag:
Segue decisão na íntegra: DECISÃO_Reconhecimento_delimitação_demarcação_e_titulação_da_Terra_Quilombola_MT.pdf