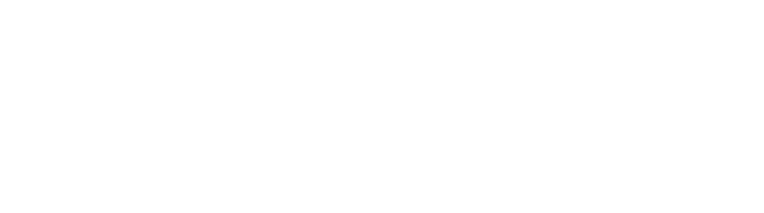A justa causa, disciplinada nos artigos 482 e 483 da CLT supostamente permite que ambas as partes ponham fim a uma relação jurídica de emprego, quando a outra pratica ato grave que impossibilita sua continuidade. Já há aí uma mentira, que vem sendo repetida há quase um século desde a criação dessas regras jurídicas. É verdade que o empregador pode despedir sob alegação de justa causa, sem pagar a quem vive do trabalho as parcas verbas previstas como forma de viabilizar a subsistência em situação de desemprego. Quem trabalha e falha em algum dos deveres de conduta descritos no artigo 482 não perde apenas o emprego. Perde o direito de acesso ao seguro-desemprego e aos valores que lhe pertencem e foram depositados junto ao FGTS; perde o tempo e o valor que corresponde ao período de prévio aviso. Pela literalidade da CLT, perde inclusive o direito ao pagamento de férias proporcionais, algo já superado pela incorporação da Convenção 132 da OIT ao nosso ordenamento, mas que precisa ser relembrado para que a lógica da punição fique clara: há múltiplas perdas para quem, dependendo do trabalho para sobreviver, cometa uma justa causa.
Não há, porém, punição alguma para o empregador que pratica um dos atos descrito no artigo 483 da CLT. Na verdade, o empregador que cometer uma das condutas previstas nesse dispositivo ganha o tempo do processo, a possibilidade de convencer o juiz de que nada de grave ocorreu e o benefício de, comprovada a justa causa, efetuar o pagamento das verbas resilitórias apenas ao final do procedimento judicial.
Relembro isso para situar a questão: a disciplina da justa causa é avessa à noção de proteção que orienta e justifica a existência do Direito do Trabalho. É assimétrica, favorecendo claramente o empregador. É punitiva, para uma relação jurídica que insistimos em tratar como contratual. Não tem correspondência, rompendo com o sinalagma que – diz a doutrina –informa as relações contratuais, mesmo da perspectiva civilista. Não resiste ao exame constitucional, pois há um direito fundamental à relação de emprego (art. 7º, inciso I). Há, ainda, a proibição da discriminação. O artigo 5º chega a estabelecer que “XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”, dentre os quais (o artigo 7º não deixa dúvida) está o direito à relação de emprego.
A Constituição ainda garante, como direito fundamental, que “LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Mas na relação de emprego, quando se trata de justa causa para a despedida, não há defesa nem contraditório.
Tudo isso deveria estar fazendo com que refletíssemos seriamente a necessidade de superação da possibilidade de despedida por justa causa, pois três décadas já nos separam da promulgação de um texto constitucional inspirado por valores claramente avessos a essa ânsia punitivista. Vivemos em uma sociedade na qual trabalhar por conta alheia é a condição para a sobrevivência física. Nesse cenário, perder o emprego pode significar ser condenado à penúria, ao endividamento e, no limite, à morte.
Pois é justamente a morte que nos assombra com ainda mais força nesse um ano de pandemia. Desde fevereiro de 2020 até agora são mais de 233 mil pessoas mortas e milhões de pessoas contaminadas em nosso país, muitas das quais convivem com sequelas que limitam e dificultam a fruição da vida. A vacina não traz a cura, mas a promessa de que conseguiremos administrar a situação caótica em que, no caso específico do Brasil também por escolhas políticas, estamos imersos. E eis que surge então o debate sobre a obrigatoriedade de vacinar-se e as consequências de uma eventual recusa.
Um tema fundamental, pois estamos diante de uma ameaça concreta à continuidade da vida humana. O vírus já apresentou mutações e nada nos garante que, mesmo imunizados, não teremos de lidar com efeitos ainda mais nocivos e fatais sobre o corpo humano, caso as novas cepas se disseminem com a mesma força e fúria daquela que originalmente causa a COVID19. Um tema que nos convoca a repensar as diferenças e as imbricações entre o âmbito público e o privado. E mais, que nos confronta com toda a incoerência de nossos discursos libertários. A suposta liberdade individual de não se vacinar poderá implicar o fracasso coletivo na luta contra essa terrível doença.
Vimos como a existência da vacina gerou, inicialmente, o efeito tão bem trabalhado por Saramago, em várias de suas obras: a bestialização das condutas humanas, desde uma perspectiva desesperada de salvar-se do terror da morte por asfixia. Às notícias de pessoas que “furaram a fila” da vacinação, somaram-se informes sobre países ricos e sua pretensão de obter preferência na aquisição das doses e sobre entidades e instituições que publicamente defenderam argumentos que traduzidos claramente significam uma convicção egoísta de que suas vidas valem mais do que as das outras pessoas.
De outro lado, a resistência em vacinar-se. Uma resistência amplamente motivada pela verdadeira campanha pública feita por quem ocupa a chefia do poder executivo. São inúmeras as suas manifestações referindo que não irá vacinar-se ou atribuindo à vacina consequências fantasiosas ao organismo humano. Não espanta, portanto, que haja resistência, a qual deve ser inclusive compreendida da perspectiva do pânico social que se instaurou com a necessidade de isolamento, com a perda de tantas pessoas próximas, com o desconhecimento sobre os efeitos reais da doença.
Compreendida da perspectiva social, a resistência em vacinar-se deve ser enfrentada também sob esse prisma, percebendo, inclusive, a semelhança de postura entre aqueles que querem o privilégio de vacinar-se primeiro e aqueles que não querem se vacinar. Tais atitudes têm em comum o fato de refletirem uma postura egoísta e equivocada. “Furar a fila” prejudicará toda a campanha de imunização, que é necessariamente pública e social, sob pena de ineficácia. Por consequência, prejudicará também quem, acreditando-se melhor que os outros, vacinou-se antes mesmo da imunização das pessoas dos grupos de risco. Negar-se a tomar a vacina é, igualmente, colocar em risco a sua vida e a vida de toda a coletividade, sob uma perspectiva de (falsa) segurança que, caso a doença se torne incontrolável, implicará a morte física também desses resistentes.
O corpo não é um espaço privado; é um território político, pois somos antes de tudo seres sociais, como tão bem refere Marx em seus Manuscritos e como nos ensinam as autoras que tratam do feminismo negro na América Latina. Dessa perspectiva, trabalhar pela vacinação de todas as pessoas é um desafio ético-político, ao mesmo tempo em que se qualifica como uma urgência sanitária.
Fato é que tais condutas não serão resolvidas pelo Direito, o que não significa que deixe de haver matéria jurídica a ser discutida nesse caso. Qualquer solução dada pelo Direito, para o enfrentamento de tais condutas, será paliativa, insuficiente. As melhores sugestões já estão colocadas por Jorge Luiz Souto Maior em seu texto “Trabalhador que se recusar a vacinar não pode ser dispensado por justa causa”. Como ele tão bem aponta, é possível adotar condutas que evitem a despedida, “sem se chegar à violência e ao arbítrio da justa causa, que, ademais, da forma como regrada na CLT, trazendo traços de reprimenda moral e disciplinamento, é um instituto jurídico incompatível com a atual ordem jurídica constitucional democrática".
Claro, é bem mais fácil pretender uma solução que passe pela punição, afinal somos uma sociedade ainda completamente atravessada por uma lógica de senhor e escravo. O problema é que essa “solução” nada soluciona. Temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, enfrentando uma crise econômica e sanitária aguda, com um custo de vida que se eleva a cada dia. A sobrevivência é um desafio constante, inclusive para quem tem emprego, em uma realidade na qual o salário mínimo está fixado em R$1.100,00 e a cesta básica, em uma cidade como Porto Alegre, custa em torno de R$ 800,00.
A despedida, com ou sem alegação de justa causa, não implicará a vacinação de quem está resistindo e aprofundará esse quadro de miséria. Ao contrário, é possível presumir que sem emprego o estímulo para a imunização será ainda menor, pois essa pessoa precisará ativar-se para conseguir outra fonte de subsistência. Então, o efeito público desejado não será alcançado. Mas haverá, na linha do que tem ocorrido especialmente desde a “reforma” trabalhista, um estímulo cada vez maior para a despedida “sem custo”.
E o que é pior, da perspectiva estritamente jurídica, legitimar a possibilidade de uma punição não prevista no texto da CLT, alargando as hipóteses do artigo 482, é abrir uma porta pela qual outras hipóteses certamente entrarão, até chegarmos ao momento em que será a doutrina, o empregador (ou quem sabe o MPT?) a definir situações não previstas em lei, nas quais será possível extinguir um vínculo sob a lógica do completo desamparo social.
Ora, há decisão do STF referindo-se à possibilidade de recusa à vacinação. E mesmo que não houvesse, seria possível, sob prisma invertido, pensar a dispensa (mesmo com o integral pagamento das verbas e, pois, sem alegação de justa causa) em razão da recusa, como uma hipótese de despedida discriminatória.
De tudo isso se extrai a convicção de que tentar resolver a questão sob a perspectiva punitivista é apenas mais um equívoco, nessa triste sucessão de erros que estamos cometendo, como sociedade, desde que a pandemia da COVID19 teve início. Se hoje discutimos os efeitos da resistência à vacinação é porque não tivemos, e seguimos não tendo, campanha pública de esclarecimento sobre a sua importância. Eis aí uma urgência.
Se na relação de trabalho é do empregador o dever de “XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança” (art. 7º), que se exija dele a realização de campanhas de estímulo à vacinação, bem como a adoção de atitudes, como a dispensa ao trabalho e mesmo o pagamento de um bônus, como forma de viabilizar e estimular a busca pela vacina.
Se nossos empregadores têm dinheiro para comprar vacinas e assumir a função estatal de imunização da sociedade, como algumas empresas recentemente anunciaram, que o utilizem para fomentar a vacinação pública e para investir no Serviço Único de Saúde, a fim de que mais doses sejam colocadas ao alcance da população no menor tempo possível.
E que não despeçam! Pois, se há algo urgente e necessário, que deveríamos assumir como condição para o enfrentamento dessa crise sanitária desde o seu início, é a necessidade de manter empregos e, com eles, a possibilidade de comer, vestir, morar e ter acesso aos medicamentos necessários para viver com saúde.
Em lugar de criar novas hipóteses de punição para quem vive do trabalho, é a proibição da despedida enquanto perdurar a pandemia o melhor caminho para o enfrentamento e a superação dessa tragédia social.
* Presidenta da Associação Juízes para a Democracia (AJD), é juíza do Trabalho do TRT-4 (Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – Rio Grande do Sul), doutora em Direito do Trabalho pela USP e Mestre em Direitos Fundamentais pela PUC-RS.