Marcelo Semer
Quando o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) encaminhou proposta para instituir jetons a seus membros, possibilitando que vários deles ultrapassassem o teto salarial fixado na Constituição, houve um certo mal-estar no meio jurídico. Afinal, o CNJ se auto-atribuíra a competência de regulamentar e fiscalizar a aplicação do limite salarial em todo o Judiciário. Soube-se, então, que o Conselho Nacional do Ministério Público já havia encaminhado anteriormente projeto de lei no mesmo sentido, que, ante a repercussão negativa, acabou vetado.
A consternação da sociedade era ainda modesta, perto da intensa reação pública que se sucederia à proposta de aumento salarial dos deputados e senadores. Uma interpretação duvidosa das Mesas da Câmara e do Senado outorgara um aumento de mais de 90% nos vencimentos de parlamentares, seguindo uma pretensa “equiparação” com salários de juízes e promotores. A propalada equiparação, como convinha aos parlamentares, desprezava a natureza dos vencimentos de juízes e promotores (subsídios sem parcelas adicionais) e mantinha as inúmeras vantagens dos congressistas confortavelmente fora do teto. O aumento foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), porque havia sido gestado no Congresso sem votação, quase à sorrelfa, numa inusitada opção parlamentar pelo “não-legislar” em causa própria.
Os episódios narrados são expressões de uma conhecida mazela na administração pública, o “corporativismo de cúpula”. A prática tem pouco que ver com a atividade das associações de classe ou as lutas salariais do meio sindical. No “corporativismo de cúpula” é o próprio Poder que se movimenta, as instituições são levadas a operar em benefício de seus integrantes. Pode-se dizer que o “corporativismo de cúpula” está para o sindicalismo como o locaute está para a greve - com a agravante de que o que está em jogo é o erário.
O corporativismo de cúpula” é anti-republicano, pois se ancora no uso do serviço público em causas privadas. Desde a época das capitanias hereditárias, aliás, o Estado brasileiro vem sendo vitimado por essas constantes transferências de rendas públicas para o setor privado - sejam elas correspondentes a benefícios extraordinários, isenções fiscais a empresários, ou incentivos de toda ordem a políticos, artistas, esportistas, etc. É a recorrente cortesia com um chapéu que não nos é nada alheio.
No cotidiano do serviço público, esse “corporativismo de cúpula” é bem visível. O nepotismo é um de seus braços mais evidentes. A escolha de parentes para contratação em cargos de comissão é uma inequívoca apropriação privada da coisa pública, que foge aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade. Vem sendo exercido no País quase como um direito, uma extensão dos atributos do cargo. Nesse particular, a criação do CNJ teve papel fundamental para expelir a prática, até então costumeira, no Judiciário. Difícil é entender por que a mesma interpretação da Constituição federal ainda não foi exigida dos demais Poderes pelo Ministério Público.
A profusão de cargos de livre provimento é outro exemplo típico. A possibilidade de contratação livre de assessores é porta aberta para nepotismos de todos os gêneros, seja em relação a parentes, amigos ou afilhados políticos. No Executivo, a distribuição de tais cargos de há muito vem sustentando uma ampla gama de apoios parlamentares, negociada de forma praticamente mercantil. No caso dos parlamentares, chega-se ao cúmulo de permitir a distribuição de uma “verba de gabinete” para contratação de assessores, como se fossem estes funcionários particulares, sem contar as hipóteses em que a verba se presta simplesmente a um salário indireto. Mesmo no Judiciário, a contratação de livre provimento é freqüente nos tribunais, ainda que o serviço a ser desempenhado seja eminentemente técnico. O que tais cargos fazem é permitir que uma relação privada (confiança como compadrio) se sobreponha a requisitos essencialmente públicos (excelência do serviço, igualdade na contratação).
Outra danosa forma de autoproteção das autoridades é o foro privilegiado. De acordo com o status do membro de Poder, tem ele o direito de ser julgado por um órgão superior da Justiça. Ministros e deputados, por exemplo, só são julgados pelo STF, como no caso do mensalão, sobre o qual nossa Suprema Corte, já congestionada por milhares de recursos pendentes há anos, se debruçará durante longo período para julgar 40 réus, porque uns poucos deles têm esse privilégio. O interesse pelo privilégio continua evidente, pois não é incomum constatar que vários réus disputam eleições com a finalidade de deslocar a competência de processos já iniciados.
Verdade que o foro privilegiado não é nada novidadeiro. É tradição no País desde as Ordenações Filipinas, época do Brasil colônia, em que fidalgos de grandes Estados e poder só seriam presos por mandados especiais do rei. De lá para cá, tivemos a Declaração da Independência e a Proclamação da República, mantendo-se, no entanto, tal privilégio intocado, mesmo com a Constituição federal prestigiando a isonomia, desconhecida naqueles tempos de absolutismo.
Costuma-se dizer que a norma visaria a proteger o cargo, e não o servidor, mas não é o que acontece. A função pública estaria mais bem resguardada permitindo-se julgar e punir o mau funcionário da mesma forma como a todos os demais cidadãos, com as mesmas leis e os mesmos juízes.
Nesta quadra em que vivemos, sob uma democracia-quase-sem-república, não carece proteger as autoridades das vicissitudes do serviço público, mas, ao contrário, proteger o serviço público das vicissitudes das autoridades, pois elas é que são servidoras. Eis aí o divisor de águas de uma postura institucional diante do corporativismo: os servidores públicos são contratados para servir ao público, e não servir-se dele.
[o artigo foi publicado originalmente no Jornal "O Estado de S. Paulo´, edição de 30/01/07]
Artigos
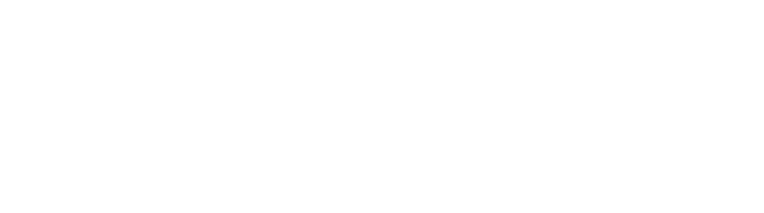
Reunir institucionalmente magistrados comprometidos com o resgate da cidadania do juiz, por meio de uma participação transformadora na sociedade.
- Rua Maria Paula, 36 - 11º andar, Conj.B
Bela Vista, São Paulo-SP, CEP: 01219-904
- Tel.: (11) 3242-8018 / Fax.: (11) 3105-3611
