Marcelo Semer
A idéia de controle social sobre os atos político-administrativos do Judiciário tem sentido em uma concepção que visa implementar a democratização e ser propulsor da independência judicial. A primeira gestão do Conselho Nacional de Justiça não fez nem uma coisa nem outra.
Inverteu-se, é certo, o centro de poder do Judiciário, por obra da reforma constitucional. Esperava-se mais, no entanto, desse novo desenho institucional, sobretudo pelo início alvissareiro do órgão com a corajosa resolução antinepotismo.
Mas o desempenho do Conselho a partir desta resolução mostrou-se aquém das expectativas. Tíbio para com a democratização interna, tímido no enfrentamento das oligarquias do poder, e em namoro explícito com o corporativismo, além de uma visão marcadamente conservadora de aspectos essenciais como independência, ética e cidadania.
Confrontado com um pedido de providências para assegurar a garantia do princípio do Juiz Natural, apresentado pela Associação Juízes para a Democracia, o CNJ negou-lhe procedência. Evitou decidir, por exemplo, a questão da concentração de liminares nas mãos de vice-presidentes, competência retirada dos relatores naturais dos processos originários de tribunais. Da mesma forma, ignorou a importância do predicado da inamovibilidade, prestigiando leis estaduais que permitem, ainda hoje, remoções injustificadas de juízes vitalícios, a critério das presidências dos tribunais, por motivos mais ou menos escusos.
Quanto à democratização interna, o avanço com o CNJ foi pífio. As eleições para a composição dos órgãos especiais foram obstadas pelo Conselho, quando determinadas pelo TJ de São Paulo, depois que vários tribunais já as haviam realizado. Deu-se duvidosa interpretação para garantir direito adquirido em órgão de representação, impedindo maior renovação de seus membros. E ainda, sem lastro em nenhum dispositivo constitucional, esvaziou-se por completo a competência dos tribunais plenos, privilegiando mais uma vez a concentração de poder e, com isso, atrasando a modernização da Justiça.
No aspecto disciplinar, a gestão passou praticamente em branco. Não que o órgão devesse ter se transformado em uma super-corregedoria, o que ninguém esperava. Mas é certo que manteve o mesmo olhar caolho sobre a disciplina interna, dirigido às bases e não às cúpulas, onde o controle sempre foi mais frágil. O CNJ não se preocupou em corrigir antigas distorções, como o fato de que as corregedorias dos tribunais alcançam apenas juízes de primeira instância e não desembargadores. Compactuou com a reprodução da regra do foro privilegiado interna corporis: quanto mais alto o status do servidor, mais difícil a fiscalização, o controle e a punição.
Ao invés de se debruçar sobre estes assuntos, que envolvem questões de fundo quanto a um sistema permissivo de irregularidades e a anomalia de uma rede de proteção das autoridades, o CNJ vem se dedicando a disciplinar atos que podem contribuir ainda mais para comprimir a independência e a cidadania do juiz.
Recentemente, o órgão regulamentou norma de duvidosa constitucionalidade da Lei Orgânica da Magistratura sobre proibição da participação de juízes em entidades não governamentais. Desprezando a constitucional liberdade de associação, vem exigindo dos magistrados que declarem não fazer parte da direção da maçonaria, de sociedade espírita, benemérita, de APAEs e etc.
Equivoca-se o CNJ nessa draconiana regulamentação: é o que magistrado faz escondido que pode por em risco a imparcialidade, não o exercício público de sua cidadania.
No final desta gestão, o CNJ ainda iniciou a preparação de um Código de Ética para o juiz, insinuando a possibilidade de criação de punições administrativas ao arrepio da lei. Mas os vícios estão longe de serem meramente formais. O projeto original contém mandamentos de cunho genérico e de âmbito periférico em relação aos verdadeiros problemas do Judiciário, chegando inclusive a tangenciar questões ligadas a comportamentos morais.
O projeto prevê que seja vedado a qualquer juiz interferir na atuação jurisdicional de outro. Mas ao desprestigiar o princípio do Juiz Natural, o próprio órgão abriu mão de estabelecer os mecanismos pelos quais a independência dos magistrados deva ser assegurada, inclusive, e principalmente, em relação às cúpulas, onde reside justamente quem tem poderes para interferir na atuação jurisdicional de outro. A proposta de Código estabelece que o juiz evite “comportamentos que possam ser entendidos como de busca injustificada e desmesurada de reconhecimento social”, balaio tão genérico que pode incluir gatos de qualquer natureza, até aqueles que militam em movimentos sociais pela afirmação substancial dos direitos humanos.
Baseado, em grande parte, em um projeto de código ibero-americano, a proposta de nosso conselho curiosamente suprime aquela que pode ser a mais importante das regras do projeto que importou: “As instituições que garantem a independência judicial não estão dirigidas a situar o juiz numa posição de privilégio”.
Ou seja, a interlocução com a sociedade é uma infração, a cidadania do juiz é um perigo, mas o abuso nos privilégios, um direito adquirido. É a justiça de sempre, com a ética própria de um inspetor de colégio interno, preocupado com os deslizes morais dos alunos, mas não com as arbitrariedades do diretor.
A última do Conselho, noticiada por esta revista eletrônica , é o entendimento de que símbolos religiosos em espaços públicos não comprometem o sentido laico do Estado. Embora ainda não tenha sido encerrada a votação dos pedidos de providência, registra-se que a maioria dos conselheiros já se manifestou contrária à determinação de retirada de crucifixos de prédios do Judiciário. Tais símbolos não deveriam guarnecer qualquer espaço público, quanto mais os fóruns, casas da Justiça que são. A separação Igreja-Estado que vige entre nós há mais de duzentos anos, parece ainda não ter chegado aos tribunais.
A Justiça, como os demais serviços públicos, deve ser universal –não pode guiar-se por idéias, pensamentos ou crenças que sirvam à exclusão de quem com eles não se identifica. A liberdade de crença é um direito fundamental, mas a religião, aspecto da vida privada das pessoas, não pode ser professada por entes públicos, nem identificada nos edifícios do Estado.
O uso dos símbolos em prédios da Justiça, especialmente os cristãos, é tradicional entre nós. Mas se era para manter e revigorar tradições não republicanas, como já acontece com o foro privilegiado e o corporativismo da magistratura, o CNJ seria desnecessário.
A Justiça é um serviço público e deve responder ao princípio da transparência, permitindo ao cidadão o controle de seu funcionamento. Por isso, a idéia em si de controle externo não pode ser descartada. Mas sem o apego a princípios básicos, como o prestígio à independência do juiz e à moralidade administrativa sem espírito de corpo, bem ainda o respeito à democracia republicana, o órgão dificilmente se desincumbirá de seus objetivos.
Espera-se da segunda gestão que logo será empossada uma visão mais arejada dos princípios e dos objetivos do Judiciário.
Marcelo Semer é Juiz de Direito, membro da AJD
Artigos
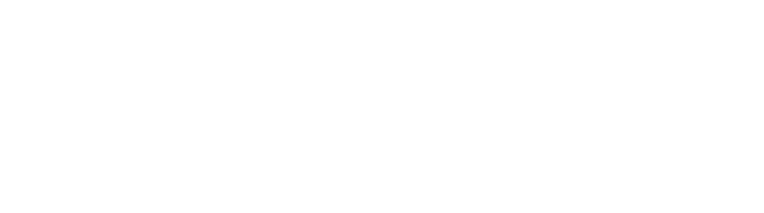
Reunir institucionalmente magistrados comprometidos com o resgate da cidadania do juiz, por meio de uma participação transformadora na sociedade.
- Rua Maria Paula, 36 - 11º andar, Conj.B
Bela Vista, São Paulo-SP, CEP: 01219-904
- Tel.: (11) 3242-8018 / Fax.: (11) 3105-3611
