Marcelo Semer
Se a reforma do Judiciário pretende combater a morosidade processual ou a impenetrabilidade na administração da Justiça, pode-se supor que seus resultados estarão bem aquém das expectativas. A esperança de que uma perspectiva democrática e popular arejasse a hierarquizada estrutura do Judiciário e permitisse um maior controle social sobre o exercício do Poder frustrou-se. A proposta aprovada muda pouco e os congressistas desperdiçaram a oportunidade para uma reforma radical na Justiça. Entre mortos e feridos, sobraram mais ações retóricas do que efetivas para garantir a celeridade dos julgamentos, além de um significativo aumento da verticalização do poder.A idéia, louvável, de abrir o Judiciário a um controle social, foi mal aproveitada. Ao final, foi criado um órgão integrado à estrutura do próprio Judiciário, com nítido viés disciplinar. O Conselho Nacional de Justiça será composto em sua maioria de indicados dos Tribunais Superiores e coadjuvantes históricos da Justiça. Se fosse moral o problema do Judiciário, até se entenderia a preocupação do legislador em pensar em um novo órgão correcional –para responder ao invocado reclamo da opinião pública, ou a opinião que se faz pública, de que o principal objetivo é sempre combater a impunidade. O maior problema do Judiciário, contudo, não é ético, é sistêmico, de estrutura –e por isso um órgão a mais com caráter disciplinar dificilmente irá solucioná-lo.Recentemente a secretaria de reforma do Judiciário, afeta ao Ministério da Justiça, concluiu que os recursos injetados nos Judiciários do país são mal empregados. Há nitidamente uma crise de gestão. Mas, sendo este o problema, não basta um órgão disciplinar –a má administração nem sempre se traduz em atos ilegais. Em passado não remoto, um Tribunal do Estado mais desenvolvido do país empregou verba de modernização do serviço na aquisição de veículos oficiais, numa equivocada escolha das prioridades públicas. Para resolver problemas como esse, melhor seria se o novo conselho tivesse um perfil de planejamento, servindo de instrumento para que a sociedade, por intermédio de seus representantes, pudesse participar destas escolhas da política judiciária. No começo dos trabalhos da Reforma, ainda na Câmara dos Deputados, a Associação Juízes para a Democracia apresentou um projeto neste sentido: a criação de Conselhos de Planejamento e Ouvidoria, em níveis estaduais e federal, junto a todos os tribunais. Isto faria com que esses órgãos, compostos por membros do Judiciário e pessoas da sociedade civil, pudessem participar, por exemplo, da elaboração orçamentária, ou ainda que o próprio órgão tivesse por si só iniciativa legislativa. Isto quebraria o monopólio dos tribunais na proposição de leis e tornaria pública a discussão política acerca dos gastos judiciários, se dirigidos a prédios suntuosos ou para a já atrasada informatização. Antes e não depois que as decisões fossem tomadas. Da proposta original, infelizmente, restou acolhida apenas a idéia de Ouvidorias nos Estados.Nas mudanças processuais propriamente ditas, a reforma foi tímida. Não avançou para a reivindicação histórica de uma Corte Constitucional, que pudesse resolver o problema da enormidade de recursos no Supremo Tribunal, liberando-o para o julgamento rápido de ações diretas e feitos de intensa repercussão. Nem estabeleceu regras mais nítidas para ampliar as ações coletivas. Optou-se por um caminho perigoso e incerto: diminuir o número de processos com as súmulas de efeito vinculante, que violam diretamente a independência do juiz. A idéia da decisão vinculante, de seguimento obrigatório, e de orientação que só poderá ser alterada pela própria Corte Suprema, engessa firmemente a criação jurisprudencial. Esta é, em regra, proveniente das decisões das instâncias inferiores, quando enfrentam e não apenas reproduzem paradigmas tradicionais. Assim se deu, por exemplo, com o reconhecimento dos direitos da concubina, até a sua proteção legal, e tem-se dado atualmente com o incremento de tutela em prol de consumidores e cidadãos, para com planos de saúde, ou na exigência judicial de prestações públicas não adimplidas pelo Estado. Com o Conselho Nacional de Justiça, composto por indicações dos tribunais superiores, e as súmulas vinculantes, aumenta-se a verticalização do Judiciário, com maior concentração de poder administrativo e jurisdicional nas cúpulas. O fato de as decisões judiciais ficarem mais previsíveis com as súmulas, como sempre pretendeu o sistema financeiro internacional, de modo a padronizar caminhos para investidores estrangeiros, não significa que ficarão mais democráticas ou mais populares. Ao revés, tendem a ficar ainda mais elitistas.Nem tudo é equívoco na reforma, dentro de um conjunto tão sortido de disposições legais. Assim, embora quase acaciano, é importante a explicitação de que as sessões dos tribunais devam ser abertas (para evitar que sejam secretas), que as decisões devem ser sempre fundamentadas, mesmo as administrativas, e que todos os processos nos tribunais sejam imediatamente distribuídos a seus juízes. É pertinente a extinção dos últimos tribunais de alçadas do país, otimizando recursos ao unificar cortes, e sem dúvida positiva a incorporação de tratados internacionais sobre direitos humanos como matéria constitucional, mesmo que a eles se tenha imposto a aprovação por um quórum qualificado. É também elogiável a autonomia das defensorias públicas, predicado necessário, conquanto não suficiente, para compelir o Estado cercado por gerentes neo-liberais, a despender recursos para as atividades sociais.Mas a frustração com o conjunto final não é menos intensa por causa destes acertos. De uma reforma produzida na gestão de um governo composto por pessoas historicamente comprometidas com a causa popular, esperava-se, no mínimo, que a redemocratização que atingiu o país desde a década de 80 finalmente alcançasse o Judiciário. Continuamos, no entanto, sob estruturas arcaicas, trombando quase sempre com a síndrome dos desiguais, reafirmando mais as nossas diferenças do que a igualdade na cidadania. Mantém-se a distinção entre juízes de instância inferior e os membros dos tribunais: só os últimos participam da escolha dos dirigentes do poder, como se fosse uma eleição censitária, estimulando o corporativismo de cúpula. A Justiça Militar subsiste, como uma Justiça criminal entre pares, contribuindo para a perpetuação de altos índices de violência policial nas cidades. O fôro privilegiado não só sobrevive como ainda será incrementado para nele incluir os ex-ocupantes de cargos públicos (afinal todos que estão agora no poder um dia serão ex) e abranger ações cíveis de improbidade. Isto resulta em concentrar na cabeça do poder o julgamento dos ilícitos das autoridades, o que nunca produziu resultados satisfatórios no país, principalmente pela extensa vinculação entre crime organizado e poder político. E as cúpulas do Judiciário, fortemente revigoradas na reforma, continuam sendo escolha exclusiva do chefe do Executivo.Em suma, nem resolvemos a crise de legitimidade, nem atacamos a de eficiência.Marcelo Semer, presidente do Conselho Executivo da AJD
Artigos
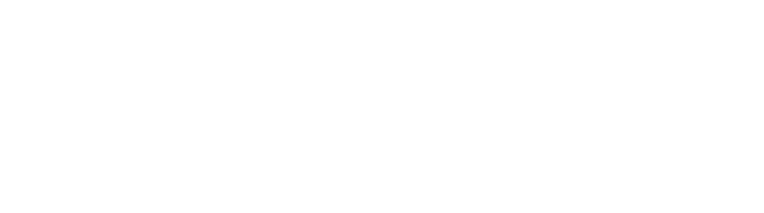
Reunir institucionalmente magistrados comprometidos com o resgate da cidadania do juiz, por meio de uma participação transformadora na sociedade.
- Rua Maria Paula, 36 - 11º andar, Conj.B
Bela Vista, São Paulo-SP, CEP: 01219-904
- Tel.: (11) 3242-8018 / Fax.: (11) 3105-3611
