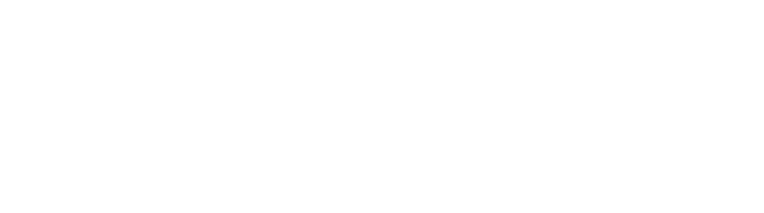Carta testemunhável - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial Nº CNJ : 0500068-73.2018.4.02.5106 (2018.51.06.500068-9) RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO REQUERENTE : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADOR : Procurador Regional da República RECORRIDO : PARA APURAR RESPONSABILIDADE ORIGEM : 01ª Vara Federal de Petrópolis (05000687320184025106)
VOTO-VISTA
Trata-se, inicialmente, de Carta Testemunhável interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 01ª Vara Federal de Petrópolis/RJ, que deixou de remeter a esta eg. Corte Regional o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo parquet contra a decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de ANTÔNIO WANEIR PINHEIRO LIMA pela prática dos crimes descritos no art. 148, §2º (sequestro qualificado), e art. 213 (estupro) c/c art. 226 do CP, cometidos durante a ditadura militar.
De pronto, registro que estou de acordo com a solução processual adotada pelo Exmo. Relator no tocante ao provimento da Carta Testemunhável e, ainda, quanto ao julgamento imediato do Recurso em Sentido Estrito, eis que perfeitamente instruído, conforme exige o art. 644 do Código de Processo Penal
Divirjo, contudo, do voto condutor no que se refere ao mérito propriamente do Recurso em Sentido Estrito, que tem como escopo a reforma da decisão que rejeitou a denúncia. Passo, então, a expor os fundamentos da divergência.
Na peça inicial (fls. 09/34), o Ministério Público Federal imputou a ANTÔNIO WANEIR PINHEIRO LIMA, conhecido como “Camarão”, os crimes de sequestro e estupro. Aduziu o órgão acusatório que, em 05.05.1971, militares e civis do Estado Brasileiro, atuando como agentes do Centro de Informações do Exército (CIE), sequestraram Inês Etienne Romeu, na cidade de São Paulo, tendo mantido a vítima em cativeiro e a levado, em 08.05.1971, para a Casa da Morte, centro de prisão e tortura clandestino do Exército Brasileiro, em Petrópolis/RJ.
Prossegue narrando que, entre 07.07.1971 e 11.08.1971, no interior da Casa da Morte, exercendo a função de vigia da Casa, ANTÔNIO manteve a vítima, contra sua vontade, em centro ilegal de detenção, ameaçando-a, e, inclusive, afirmando que a mataria. Além disso, aduz que, entre 01.06.1971 e 20.07.1971, o denunciado estuprou duas vezes a vítima, manipulando seus órgãos genitais e a obrigando, contra sua vontade, a manter relações sexuais (conjunção carnal) com ele. Para tanto, ANTONIO “ameaçou a vítima, afirmando que a mataria, e utilizou recurso que tornou impossível a defesa da vítima, qual seja, a circunstância de que a vítima foi sequestrada, subjugada, torturada e mantida sob forte vigilância armada”.
Relata a denúncia que Inês Etienne foi perseguida e monitorada pelos órgãos de inteligência, em razão de sua militância estudantil e atuação como dirigente das organizações Vanguarda Popular Revolucionária – VPR, VAR-Palmares e Polop, tornando-se alvo do governo ditatorial militar brasileiro, instaurado após o golpe de 1964.
O MM Juiz Federal rejeitou a denúncia com base na ausência de justa causa (art. 395, III do CPP), pautando-se em três pressupostos: (i) ausência de arcabouço probatório mínimo que fundamentasse a imputação; (ii) extinção da punibilidade pela Lei 6.683/79 (Lei de Anistia); (iii) extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
O Exmo. Des. Fed. Paulo Espírito Santo, em seu voto, não se debruçou sobre o fundamento da ausência de justa causa aventado pelo magistrado de primeiro grau, mas limitou-se a rejeitar a denúncia com amparo na extinção da punibilidade dos delitos, seja pela anistia, seja pela prescrição da pretensão punitiva. Sustentou o Relator que a constitucionalidade da Lei 6.683/79 fora confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 153, sem, contudo, tratar propriamente da tese de inconvencionalidade da referida lei frente à Convenção Americana de Direitos humanos, como advoga o MPF. Afirmou que não havia qualquer ato normativo interno que conferisse aos crimes de sequestro e estupro a característica de crimes contra humanidade. Frisou que o Brasil não subscreveu a Convenção sobre imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade, incidindo os prazos prescricionais do art. 109 do Código Penal. Em seguida, argumentou que o Brasil só reconheceu a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 03 de dezembro de 1998, e, por conseguinte, aquele Tribunal não teria competência para os fatos anteriores. Além disso, sustentou que as decisões oriundas de Tribunal Internacional possuem “caráter meramente declaratório”. Concluiu declarando que não seria possível “deixar de aplicar o direito como em vigor está” e que a reabertura do caso quase 47 anos depois soa como “uma tentativa de vingança institucional”.
É uma breve síntese.
De plano, afasto a alegação preliminar do Ministério Público Federal. Entendo que houve fundamentação mínima a fim de satisfazer a exigência do art. 93, IX da Constituição Federal. Embora o tenha feito de forma sucinta, fato é que o magistrado a quo expôs suas razões para amparar a rejeição de denúncia. Sendo assim, não há que se falar em anulação do provimento judicial ora sob análise.
Passo a analisar os fundamentos apresentados pelo juízo a quo para rejeitar a denúncia. Inicialmente, cabe registrar que está equivocado o MM Juiz quando associa o termo justiça de transição à tribunal de exceção. Vejamos o que disse o MM Juiz:
“À fls. 1482 consta cópia da capa de peças de informação autuadas no âmbito MPF sob o nº 1.30.001.006267/2012-58, que contém o seguinte título de capa: “Representação do coordenador do Grupo Justiça de Transição do RJ visando à apuração de mortes e desaparecimentos de militantes políticos, ocorridos no Estado do Rio de Janeiro durante o regime de exceção”.
Esse documento indica a criação de um “grupo” no âmbito do MPF com o nome de “Justiça de Transição”. Isto parece indicar a criação pelo MPF de um simulacro de tribunal de exceção.
O inciso XXXVII do art. 5º da Constituição estabelece o seguinte: “não haverá juízo ou tribunal de exceção”. A proibição de existência de juízo ou tribunal de exceção também é um direito humano. A violação dessa norma também ofende a dignidade humana”.
A expressão Justiça de Transição (e suas variações) é reconhecida no mundo inteiro como uma série de esforços e práticas adotadas pela sociedade civil e por instituições governamentais a fim de garantir, a partir da revelação de fatos que envolveram graves violações aos direitos humanos em determinado período histórico, a reparação das vítimas, a responsabilização dos agressores, e a promoção de políticas de reconciliação. Tudo isso com a finalidade de evitar, não só uma reprodução idêntica de períodos passados, mas a permanência e repetição das políticas de Estado violadoras de Direitos Humanos, com novas roupagens e contornos. Afinal, “dizem que a história não se repete, mas rima”[1].
Esta noção do que venha a ser Justiça de Transição é tratada, por diversas vezes, na Coletânea de artigos lançada pelo próprio Ministério Público Federal (Justiça de Transição – Direito à Memória e à Verdade: boas práticas)[2], da qual extraem-se as seguintes definições, apoiadas na Organização das Nações Unidas e na entidade não governamental Centro Internacional para a Justiça Transicional:
Assim, a Organização das Nações Unidas definiu justiça transicional como o conjunto completo de processos e mecanismos relacionados com os esforços de uma sociedade para superar o legado de uma larga escala de abusos contra os direitos humanos no passado, a fim de assegurar responsabilização, a administração da justiça e reconciliação. Essas medidas podem ser judiciais ou não judiciais, incluindo persecução criminal, reparações, busca da verdade, reformas institucionais, expurgos de funcionários ou a combinação delas. Em sentido parecido, a respeitada entidade não governamental Centro Internacional para a Justiça Transicional (International Center for Transitional Justice – ICTJ) publica em seu sítio de internet que justiça transicional é o conjunto de medidas judiciais e não judiciais que têm sido implementadas por diferentes países para reparar um legado de massivos abusos aos direitos humanos. Essas medidas incluem responsabilização criminal, comissões da verdade, programas de reparação e vários tipos de reformas institucionais.
Deste breve panorama, revela-se que Justiça de Transição não diz respeito somente à atuação do Poder Judiciário, e, por certo, não guarda qualquer relação com implantação de um juízo ou tribunal de exceção. Pelo contrário, busca-se, neste feito, a apuração de crimes previamente tipificados no Código Penal à época dos fatos por juízo definido pelas normas de competência judiciária, amparada no respeito ao devido processo legal, além de, claro, em todas as garantias constitucionais, supralegais, e legais a que faz jus qualquer acusado processado criminalmente em um Estado Democrático de Direito.
Ultrapassada essa questão, passo a refutar, ponto a ponto, as razões externadas pelo magistrado a quo para rejeitar a denúncia, bem como os argumentos expendidos pelo Exmo. Relator em seu voto.
(i) Do farto acervo probatório apto a embasar o recebimento da denúncia
O MM Juiz ao se debruçar sobre o acervo probatório acostado aos autos no momento do oferecimento da denúncia, afirmou que não havia “qualquer indício de existência real da narrativa ali descrita”. Sustentou que os “únicos documentos apresentados pelo MPF para fundamentar toda a acusação são as cópias de certidões emitidas pelo escrivão da 3ª auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, emitidas em outubro de 1979 (fls. 69/70) e janeiro de 1979 (fls. 71/72)”. Prosseguiu apontando:
“Todas as demais peças que instruíram a denúncia, não se caracterizam como documentos que possam servir como prova de fatos no juízo penal. Reportagens – não importa a quantidade - não constituem documentos. Entrevistas não constituem documentos. Deduções não constituem documentos. Sentenças proferidas por tribunais de organismos estrangeiros não constituem documento. Petições e decisões judiciais proferidas em âmbito de medidas cautelares não constituem documentos.
Note-se que as declarações de Inês Etiene constantes de termo lavrado na sede da OAB/RJ (cópia de fls. 384/387), foram prestadas em 05/09/1979. Ou seja, OITO ANOS após o tempo do crime segundo a denúncia. Além disso, nesse termo consta a expressa ressalva no sentido de que o “relatório” (cópia de fls. 390/402), datado de 18/09/1971 e assinado por Inês, constitui uma “reprodução feita nesta data, daquele inicialmente escrito em 18 de setembro de 1971, com algumas correções e adições, tornadas necessárias, em face do decurso do tempo e de fatos supervenientes”. Assim, evidentemente, o denominado “relatório” de fls. 390/402 também não constitui documento”.
Logo em seguida, o magistrado passou a traçar um histórico da condenação de Inês Etienne Romeu pela Justiça Militar, parecendo sugerir que as punições penais a ela infligidas, de alguma forma, desacreditam seu relato como vítima de crime sexual e de sequestro. Ou, ainda, que os atos supostamente praticados contra ela durante o período de cárcere se justificam diante dos crimes pelos quais fora condenada. Observe-se:
“De acordo com a certidão de fls. 69/70, Inês Etienne Romeu foi condenada pelo Superior Tribunal Militar à pena de prisão perpétua pelo crime do art. 28, § único do Decreto Lei nº 898/69, reduzindo a pena para 30 anos, na forma do artigo 51, do Decreto Lei nº 898/69. Ainda de acordo com tais documentos, “o Juízo, por despacho de 21/8/79, ajustou a pena da sentenciada para 8 anos de reclusão, correspondente a pena mínima prevista no parágrafo único do artigo 26, da vigente Lei de Segurança Nacional (Lei nº 6.620/78)”.
De acordo com a certidão de fls 71/72, Inês Etienne Romeu “também respondeu a processo pela 1ª Auditoria de Aeronáutica da 1ª. CJM, sendo condenada em sessão de 1/9/1972, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, como incursa no art. 14 do Dec. Lei nº 989/69, cuja decisão foi confirmada pelo Superior Tribunal Militar.
Dessa forma, por essas certidões, resta provado que Inês Etienne Romeu foi condenada pela Justiça Militar, por sentenças transitadas em julgado, pela prática dos crimes de sequestro seguido de morte (art. 28 § único do Decreto Lei nº 898/69) e de associação a agrupamento que, sob orientação de governo estrangeiro ou organização internacional, exerce atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional. (art. 14 do Decreto Lei nº 898/69).”
Assim, com base não só em prejulgamentos e desqualificações da vítima, mas em todo o contexto histórico em que se deram os fatos (vigência de ditadura militar), o magistrado ignorou o farto arcabouço probatório reunido pela acusação que, permite, sem dúvidas, o recebimento da denúncia, uma vez que se exige nesse estágio processual apenas a prova da materialidade e a presença de indícios mínimos de autoria[3].
Inicialmente, cumpre observar, como bem ressaltado pelo MPF, em seu parecer, que a prisão de Inês Etienne Romeu fora amplamente reconhecida pelo Estado brasileiro, em mais de uma ocasião, desde a data de 05.05.1971. Além disso, é incontroverso que Inês permaneceu encarcerada até 29.08.1979. Trago aqui trecho do parecer em que o ponto fica bem explicado:
“De plano, conforme reconhecido pelo próprio magistrado de primeiro grau, a prisão de Inês Etienne Romeu em 05/05/1971 foi reconhecida pelo Estado brasileiro, conforme certidões expedidas pela 3ª Auditoria do Exército da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (Rio de Janeiro).
Com efeito, tal certidão consta às fls. 69/70 dos autos de origem, e atestam que Inês foi condenada pelo Superior Tribunal Militar à pena de 30 anos, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 23/08/1979. Aduz, ainda, que a pena foi ajustada pela 3ª Auditoria do Exército da 1ª Circunscrição Judiciária Militar para 8 anos de reclusão, a qual foi considerada cumprida em 5/5/79, sendo expedido o competente alvará de soltura” e sendo a sentenciada posta em liberdade em 29/08/1979.
Declara, por fim, que “INÊS ETIENNE ROMEU, cumpriu a pena imposta por este Juízo, no período compreendido de 5/5/71 até 5/5/79.
Outrossim, a 3ª Auditoria do Exército da 1ª Circunscrição Judiciária Militar reiterou a informação de que Inês estava presa desde 05/05/71 na certidão acostada às fls. 71/72 dos autos de origem.
Como atesta o próprio órgão militar, a vítima foi libertada apenas em 29/08/1979, e, neste ano, prestou diversos depoimentos acerca do período de seu cativeiro, das barbaridades que sofreu e do local em que mantida encarcerada, sendo que o primeiro deles foi à Ordem dos Advogados do Brasil em 05/09/1979 (fls. 384/387 dos autos de origem). Na ocasião, foi ainda juntado relatório e anexo, redigido pela vítima e datado de 18/09/1971, acerca dos acontecimentos ocorridos durante o cárcere (fls. 390/402 e 403/405 dos autos de origem).”
É possível perceber que Inês prestou seu depoimento à Ordem dos Advogados do Brasil apenas uma semana depois de ser posta em liberdade, ou seja, no primeiro momento em que foi possível revelar as ofensas sofridas. Assim, não se pode negar a autenticidade do relato exclusivamente com base no transcurso de 8 anos desde a data dos fatos, como fez o magistrado a quo.
Consigno que a ressalva contida no depoimento à OAB de que o Relatório produzido em 18.09.1971 e assinado por Inês teria sido corrigido e aditado em algumas partes, a fim de contemplar fatos supervenientes, em nada modifica a sua natureza. As afirmações ali contidas constituem-se em declarações da ofendida.
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou, em sua jurisprudência, que “a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do CPP, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”[4]
Nota-se, portanto, que mesmo em um cenário de normalidade democrática, o Judiciário reconhece a desvantagem processual dos ofendidos nos crimes praticados à clandestinidade. Maior razão, portanto, em se atribuir maior relevância às narrativas por eles apresentadas quando os crimes denunciados forem inseridos em uma conjuntura de violações sistemáticas e generalizadas de direitos, já que o aparato estatal atuava para esconder os atos de seus agentes e obstar a apuração dos delitos.
Cumpre transcrever alguns trechos do que fora relatado por Inês em 1979, a fim de que se mostre a clareza das declarações. Primeiramente, descreveu Camarão nos seguintes termos:
“12. Camarão – baixo, claro, natural do Ceará. Sua família reside em Fortaleza. Seu nome real é Wantuir ou Wantuil. É do Exército e fez parte da segurança pessoal do Presidente João Goulart. Disse me que “Breno” (Carlos Alberto Soares de Freitas) foi o primeiro “terrorista” que esteve preso naquela casa. É uma espécie de caseiro do local, lá permanecendo durante todo o tempo acompanhado por outro elemento (inicialmente foi o Raul, depois Pardal). É de baixa instrução.”
Em seguida, após uma série de torturas e tratamentos degradantes, Inês relata episódio em que os militares lhe ofereceram “uma saída humana”: o suicídio. Este suicídio, de acordo com ela, deveria ocorrer em local público. A vítima deveria se atirar sob a roda de um ônibus. Porém, no momento em que deveria fazê-lo, começou a chorar e gritar. A partir daí, conta os castigos sofridos, mencionando expressamente os estupros realizados pelo acusado como punição:
“Minha atitude começou a despertar a atenção de populares e imediatamente fui reconduzida para a casa. Por não ter me matado, fui violentamente castigada: uma semana de choques elétricos, banhos gelados de madrugada, “telefones”, palmatórias. Espancaram-me no rosto, até ficar desfigurada. A qualquer hora do dia ou da noite sofria agressões físicas e morais. “Márcio” invadia minha cela para “examinar” meu ânus e verificar se “Camarão” havia praticado sodomia comigo. Esse mesmo “Márcio” obrigou-me a segurar em seu pênis enquanto se contorcia obscenamente. Durante este período fui estuprada duas vezes por Camarão e era obrigada a limpar a cozinha completamente nua, ouvindo gracejos e obscenidades”.
Todavia, para além da palavra da vítima, nestes autos, existem inúmeras outras provas colhidas durante a fase investigatória que respaldam as declarações de Inês, como é o caso da busca e apreensão na casa do investigado deferida pelo juízo da 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (processo nº2014.51.01.020100-0); a quebra de sigilo de dados telefônicos de terminal ligado a “Camarão” (processo nº 0023113-23.2014.4.02.5101); admissão pelo acusado perante o MPF, de que era, à época dos fatos, caseiro da Casa da Morte; e, ainda, o reconhecimento do mesmo, por fotografia, pela vítima Inês Etienne Romeu, antes de falecer.
Mais uma vez, transcrevo trecho do recurso ministerial destacado pelo parquet, em parecer, na qual o MPF refaz os passos investigativos e demonstra como as provas que instruem a presente ação penal foram reunidas:
“Para a identificação do caseiro “Camarão” como sendo o denunciado ANTONIO WANEIR PINHEIRO LIMA foi empreendida, pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, longa coleta de informações e reconstrução histórica dos eventos, detalhadamente descrita na denúncia – à qual, por brevidade, ora se reporta.
Com efeito em decorrência da cautelar deferida pelo Juízo da 4a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (Processo no 2014.51.01.020100-0 – Busca e Apreensão), e cumprida a diligência na casa do falecido Ten. Cel. Paulo Malhães, foi localizada uma agenda que trazia uma anotação “Camarão”, acompanhada de um telefone fixo (791-4730). Certamente se tratava do tal caseiro da Casa da Morte, até porque é sabido (e até confessado pelo próprio Malhães), que o falecido Ten-Cel era ligado ao CIE e atuou durante anos na “Casa da Morte”. É claro que Malhães conhecia Camarão, e alta a probabilidade (até pela peculiaridade do apelido) que o Camarão da agenda fosse aquele descrito como o caseiro da Casa da Morte.
Requerido o afastamento do sigilo de dados telefônicos do terminal indicado na agenda e deferido o pedido, o telefone obtido foi consultado em bases de dados escaneadas de listas telefônicas antigas no Projeto Oi Futuro, obtendo-se a informação de tratar-se de telefone de Fernando Gonçalves de Almeida, natural da cidade de Nilópolis e empresário do ramo de transportes na Baixada Fluminense, sócio de diversas empresas de ônibus do Grupo FGA, integrado pelas empresas Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória e Viação Ponte Coberta.
Assim, o MPF obteve uma revista do grupo FGA que, ao relatar a origem do grupo e fazer um inventário dos funcionários, “amigos” e “colaboradores” das empresas de ônibus, trouxe fotos do Ten-Cel. Paulo Malhães e de “Camarão”! Também se vê Luiz Claudio Vianna, vulgo Dr. Luizinho, figura ligada à Casa da Morte de Petrópolis. A revista está nos autos da cautelar. Notem-se as fotos das páginas 48 (Malhães), 49 (Dr. Luizinho) e 82 (“Camarão”) da revista (fls.89, 90 e 123 do processo nº 0023113-23.2014.4.02.5101). O investigado é retratado apenas pelo apelido. O que é interessante observar é que a foto constante da revista foi tirada no sítio do Coronel Paulo Malhães!!! Observe-se bem a pilastra com pastilhas coloridas, que pode ser vista nas fotos extraídas de seu computador, apreendido no local, acostadas pelo MPF no CD constante dos autos do processo nº 0023113-23.2014.4.02.5101.
Em contato com a viúva do Tenente-Coronel Malhães, conseguiram-se dois telefones que supostamente seriam de “Camarão”: (21) 981484898, e (22) 30213082, que são indicativos de telefones na Região dos Lagos. Ainda segundo a viúva do Coronel, “Camarão” poderia chamar-se Vandir ou Valdeir, e teria sido “dono” de um posto de gasolina em Seropédica que teria as iniciais de seu nome na razão social da empresa: “VPL”.
Realizado o cruzamento dos dados com as informações constantes das listas da Brigada Paraquedista e pesquisas realizadas na internet, foi verificado que ANTONIO WANEIR (ver documentos anexos nos autos do processo n.º 0023113-23.2014.4.02.5101):
- a) realmente esteve envolvido com crime por meio de arma de fogo na região dos Lagos, mais precisamente em Araruama, sendo que a notícia indica tratar-se de indivíduo conhecido como “Camarão”;
- b) realmente foi ligado a um Posto de Gasolina, como mostram informes da Justiça do Trabalho. Ampliando a pesquisa pelo uso dos sistemas eletrônicos disponíveis ao órgão acusatório, o MPF pôde então confirmar que ANTONIO WANEIR:
1) é natural do Ceará, embora haja informações imprecisas de que nasceu em Fortaleza ou Quixeramobim;
2) é residente em Araruama, na Região dos Lagos;
3) tem telefone celular que coincide com aquele obtido anteriormente: (21) 81484898; 4) foi efetivamente sócio de um posto de gasolina chamado VPL até o ano de 2000;
5) tem larga folha de antecedentes, além da tentativa de homicídio recente (como eram as informações de agentes da ditadura que o conheciam), furto, lesão corporal, porte de arma;
6) sua foto é muito parecida com a foto da Revista da empresa de ônibus, cuja legenda aponta tratar-se de “Camarão”;
7) De seu CNIS consta anotação de vínculo empregatício com as empresas Viação Ponte Coberta e Expresso Nossa Senhora da Glória Ltda, ambas do grupo econômico da Revista onde sua foto foi impressa.
O resultado das interceptações do processo nº 0023113-23.2014.4.02.5101 confirmou que o denunciado ANTONIO WANEIR PINHEIRO LIMA tratava-se de “Camarão”, referido pela vítima Ines Etienne Romeu como carcereiro da Casa da Morte e responsável pelos crimes contra ela praticados. De fato, em várias ligações, faz-se referência a “Camarão”, inclusive tendo os interlocutores dito expressamente que, para despistar o seu passado, o denunciado não gostava de usar o apelido “Camarão”, preferindo ser chamado de “Neir” (diminutivo de “Waneir”).
(…)
Deferida judicialmente a condução coercitiva de ANTONIO WANEIR PINHEIRO LIMA, depois de fugir do MPF e da Comissão Estadual da Verdade e esconder-se no interior do Ceará, o então investigado foi ouvido na Procuradoria da República no Ceará, na cidade de Fortaleza em 2014, oportunidade em que confessou ser o caseiro da Casa da Morte! Negou, em seguida, a prática de qualquer delito, dizendo que era apenas vigia da casa (Termo de Depoimento e mídia constantes dos autos do Processo nº 0023113-23.2014.4.02.5101 e do PIC nº 30/2013).
Todavia, a farsa do depoimento no que tange à negativa da prática de crimes se revelou nos autos da interceptação telefônica, em especial a partir de diálogo obtido por meio da interceptação do terminal (21) 34978034, usado por Francisco Vandi de Lima, um dos irmãos do denunciado ANTONIO WANEIR PINHEIRO LIMA (fls. 639-640 do Processo nº 0023113-23.2014.4.02.5101).
(…)
Os interlocutores comemoram o fato de o denunciado ANTONIO WANEIR ter sido evasivo no depoimento prestado ao Ministério Público Federal (quando disse que era “apenas vigia da casa”). O denunciado foi chamado no diálogo de “malandro” por ter mentido. Os interlocutores deixam claro ainda que o advogado “instruiu” o depoimento de ANTONIO WANEIR para que ele não dissesse a verdade a respeito dos crimes cometidos. Dizem ainda que, passado o depoimento, que Camarão poderia “voltar” do Ceará para sua casa, ou seja, que poderia parar de fugir para esconder-se da Comissão da Verdade e do MPF.
(…)
Relevante destacar, ainda, que posteriormente à confissão do denunciado no sentido de que era o caseiro da Casa da Morte, a vítima Inês Etienne Romeu foi ouvida pelo MPF, consoante mídia constante do volume II do PIC nº 30/2013, ocasião em reconheceu, por fotografia, ANTONIO WANEIR PINHEIRO LIMA como sendo, efetivamente, o vigia “Camarão”, que atuava na Casa da Morte, tomando conta da vítima, durante o dia todo, todos os dias, sendo responsável, ainda, pelos abusos por ela sofridos, inclusive sexualmente .
Portanto, as provas documental e oral colhidas, desde o depoimento da vítima até o interrogatório do denunciado – que confessou ser o caseiro da Casa da Morte –, somados às provas decorrentes da interceptação telefônica, das medidas de busca e apreensão no sítio do Coronel Paulo Malhães e na casa do próprio denunciado, bem assim todos os demais elementos probatórios carreados aos autos, apontam o denunciado ANTONIO WANEIR PINHEIRO LIMA como o “Camarão”, agente e caseiro da “Casa da Morte”, em Petrópolis, tendo sido o denunciado autor do sequestro (tendo vigiado e cerceado a liberdade) e ainda dos dois estupros contra a vítima Inês Etienne Romeu.” (fls. 93/95 e 97/99 – grifos no original)
Diante de todo o exposto, não há que se falar em ausência de justa causa para ação penal, eis que as provas até aqui coligidas são suficientes para, neste momento processual, autorizar o recebimento da denúncia em desfavor de ANTÔNIO WANEIR PINHEIRO LIMA pela prática dos crimes descritos no art. 148, §2º (sequestro qualificado), e art. 213 (estupro) c/c art. 226, na forma do art. 51, §2º (redação antiga do Código Penal), todos em concurso material.
(ii) Da inconvencionalidade da Lei 6.683/79 (Lei de Anistia) - inocorrência de extinção da punibilidade
A Lei 6.683, promulgada em 28 de agosto de 1979, ainda durante a ditadura militar, concedeu “anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares”. Além disso, também foram englobados pela referida lei os crimes de qualquer natureza conexos com crimes políticos ou praticados por motivação política.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 153, decidiu, em 29.04.2010, sob a Relatoria do Exmo. Ministro Eros Grau, por 7 votos a 2, que a Lei 6.683/79 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
Esta decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade pelo STF foi utilizada tanto pelo MM Juiz de primeiro grau quanto pelo Exmo. Relator para reconhecer a extinção da punibilidade dos crimes imputados ao denunciado pelo art. 107, II do CP.
O magistrado de primeiro grau afirmou que: “uma vez feito o controle de constitucionalidade da norma, não há mais qualquer sentido em se fazer o alegado controle de convencionalidade”. Por sua vez, o Exmo. Des. Paulo Espírito Santo registrou, em seu voto, que, “muito embora esse sentimento de injustiça seja uma constante quando o assunto é a ditadura militar, minha convicção é no sentido de confirmar a decisão que rejeitou a denúncia, pois o caso está regulado, sem dúvida alguma, pela Lei da Anistia – 6.683/79, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF por ocasião do julgamento da ADPF nº 153 e, portanto, confirmada a anistia aos que cometeram crimes políticos ou conexo com estes no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979”.
Todavia, tal entendimento não deve prosperar uma vez que os chamados “Controle de Constitucionalidade” e “Controle de Convencionalidade” são mecanismos diversos de aferição da compatibilidade de uma lei como norma de hierarquia superior, com parâmetros distintos. No caso do controle de constitucionalidade, o paradigma é a Constituição Federal, enquanto que no controle de convencionalidade busca se verificar se as normas de direito interno se adequam aos Tratados de Direitos Humanos assinados pelo Brasil. É o que a doutrina especializada chama de Teoria da Dupla Compatibilidade Material[5] .
Assim, por si, as diferenças conceituais entre os institutos já nos permitem concluir que a constitucionalidade de uma norma não implica, necessariamente, na sua convencionalidade.
Vale ressaltar que foi o próprio Supremo Tribunal Federal que fixou esse entendimento quando reconheceu aquilo que chamou de efeito paralisante da norma supralegal (tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil) e decidiu pela impossibilidade da prisão civil do depositário infiel (RE 349703, RE 466343 e Habeas Corpus HC 87585). Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal considerou que, muito embora a CRFB autorizasse expressamente a prisão do depositário infiel (artigo 5º, LXVII), a legislação ordinária era inaplicável (teve sua incidência afastada) por colidir com normas de status supralegal – o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7).
Note-se que, até o ano de 2008, o Supremo Tribunal Federal admitia a prisão do depositário infiel, reafirmando, por diversas vezes, a sua constitucionalidade, como se extrai da ementa abaixo transcrita:
EMENTA Habeas corpus. Processual civil. Depositário judicial infiel. Prisão civil. Constitucionalidade. Impossibilidade de exame aprofundado de fatos e de provas na via restrita do habeas corpus. Ordem denegada. Precedentes. 1. Hipótese que não se amolda à questão em julgamento no Plenário desta Corte sobre a possibilidade, ou não, de prisão civil do infiel depositário que descumpre contrato garantido por alienação fiduciária. No presente caso, a prisão decorre da não-entrega dos bens deixados com o paciente a título de depósito judicial. 2. A decisão do Superior Tribunal está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de ser constitucional a prisão civil decorrente de depósito judicial, pois a hipótese enquadra-se na ressalva prevista no inciso LXVII do art. 5º em razão da sua natureza não-contratual. 3. Impossibilidade de exame de fatos e de provas na via restrita do procedimento do habeas corpus a fim de verificar o estado clínico do paciente para decidir sobre o deferimento de prisão domiciliar. 4. Ordem denegada. (STF, HC 92541, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 19/02/2008, DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-05 PP-01080 RTJ VOL-00206-01 PP-00371 LEXSTF v. 30, n. 357, 2008, p. 379-394) (Grifos adicionados).
Poucos meses depois, como já adiantado, o Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer o caráter supralegal dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos incorporados ao direito pátrio antes da Emenda Constitucional nº45/2004. Confiram-se os julgados que deram origem ao precedente:
PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL DO INCISO LXVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. POSIÇÃO HIERÁRQUICO-NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei n° 911/69, assim como em relação ao art. 652 do Novo Código Civil (Lei n° 10.406/2002). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N° 911/69.
EQUIPAÇÃO DO DEVEDOR-FIDUCIANTE AO DEPOSITÁRIO. PRISÃO CIVIL DO DEVEDORFIDUCIANTE EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. A prisão civil do devedorfiduciante no âmbito do contrato de alienação fiduciária em garantia viola o princípio da proporcionalidade, visto que: a) o ordenamento jurídico prevê outros meios processuais-executórios postos à disposição do credor-fiduciário para a garantia do crédito, de forma que a prisão civil, como medida extrema de coerção do devedor inadimplente, não passa no exame da proporcionalidade como proibição de excesso, em sua tríplice configuração: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito; e b) o Decreto-Lei n° 911/69, ao instituir uma ficção jurídica, equiparando o devedorfiduciante ao depositário, para todos os efeitos previstos nas leis civis e penais, criou uma figura atípica de depósito, transbordando os limites do conteúdo semântico da expressão "depositário infiel" insculpida no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição e, dessa forma, desfigurando o instituto do depósito em sua conformação constitucional, o que perfaz a violação ao princípio da reserva legal proporcional. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (STF, RE 349703, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-04 PP-00675)
EMENTA: PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão constitucional e das normas subalternas. Interpretação do art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do RE nº 349.703 e dos HCs nº 87.585 e nº 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. (STF, RE 466343, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-06 PP-01106 RTJ OL-00210-02 PP-00745 RDECTRAB v. 17, n. 186, 2010, p. 29-165)
DEPOSITÁRIO INFIEL - PRISÃO. A subscrição pelo Brasil do Pacto de São José da Costa Rica, limitando a prisão civil por dívida ao descumprimento inescusável de prestação alimentícia, implicou a derrogação das normas estritamente legais referentes à prisão do depositário infiel. (STF, HC 87585, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008, DJe-118 DIVULG 25- 06-2009 PUBLIC 26-06-2009 EMENT VOL-02366-02 PP-00237)
De todo esse quadro, extrai-se que é perfeitamente possível que uma lei ordinária seja, em um primeiro momento, reputada constitucional e, posteriormente, à luz dos tratados de direitos humanos com status supralegal, tenha sua inconvencionalidade reconhecida.
Deste modo, o pedido formulado pelo Ministério Público Federal – realização do controle de convencionalidade da lei de anistia em face da Convenção Americana de Direitos Humanos – não é inédito ou descabido, tendo em vista que o mesmo raciocínio jurídico já fora adotado pela Suprema Corte do país.
As questões, portanto, que se propõem são relativamente simples: A Lei de Anistia é incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos? É possível reconhecer, neste caso, o aludido efeito paralisante da Convenção para obstar a aplicação da Lei 6.683/79?
Entendo que a resposta para ambas as perguntas é afirmativa. Explico.
Em princípio, é preciso reconhecer que os crimes, tal como denunciados nestes autos, são considerados como crimes contra a humanidade. E, como se verá a seguir, decorre das normas consagradas de Direito Internacional, nelas incluídas a Convenção Americana de Direitos Humanos, o dever do Estado de identificar, julgar e, se for o caso, punir, segundo as regras de processo penal de seu ordenamento interno, os autores desses crimes.
O conceito de crime contra a humanidade foi primeiramente formalizado no artigo 6 (c) do Estatuto do Tribunal de Nuremberg, criado pelo acordo de Londres, em agosto de 1945, para o imediato julgamento e punição dos crimes cometidos pelos oficiais da Alemanha nazista. Foram descritos, inicialmente, como atos desumanos cometidos contra população civil ou perseguições por motivos políticos, raciais ou religiosos, praticados em violação ou não das leis domésticas dos países onde perpetrados. A Organização das Nações Unidas, por meio de sua Resolução 95 (I), no ano de 1946, confirmou os princípios de Direito Internacional consagrados no Estatuto (Princípios de Nuremberg), dentre eles a definição de crime contra humanidade.
Como leciona Luiz Flávio Gomes[6] , “já em 1950, como se vê, apareciam as primeiras notas da definição dos crimes contra a humanidade: (a) atos desumanos, (b) contra a população civil, (c) num ambiente hostil de conflito generalizado (durante uma guerra ou outro conflito armado)”.
Alguns anos depois, a Convenção Sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade (1968), em seu preâmbulo, aludiu a outras Resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas para demonstrar que a ideia de “crimes contra humanidade” e “crimes de guerra” já fazia parte dos princípios internacionais consagrados no momento de sua edição. Cumpre aqui colacionar trecho desse preâmbulo[7] :
Os Estados Membros na presente Convenção, Lembrando as Resoluções nº3 (I) e 170 ( II ) da Assembléia Geral das Nações Unidas, datadas de 13 de fevereiro de 1946 e 31 de outubro de 1947, sobre a extradição e o castigo dos criminosos de guerra, e a Resolução n.º 95 ( I ) de 11 de dezembro de 1946, que confirma os princípios de direito internacional reconhecidos pelo Estatuto do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg e pelo julgamento deste tribunal, bem como as resoluções n.º 2184 (XXI ) de 12 de dezembro de 1966 e 2202 ( XXI) de 16 de dezembro de 1966, nas quais a Assembléia Geral condenou expressamente como crimes contra a humanidade, por um lado, a violação dos direitos econômicos e políticos das populações autóctones e por outro, a política de "Apartheid".
Lembrando as Resoluções n.º 1074 D ( XXXIX) e 1158 (XLI ) do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas, datadas de 28 de julho de 1965 e 5 de agosto de 1966, sobre o castigo dos criminosos de guerra e dos indivíduos culpados de crimes contra a humanidade. Constatando que em nenhuma das declarações solenes, atas e convenções que visam a perseguição e repressão dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade se previu a limitação no tempo.
Considerando que os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade se incluem entre os crimes de direito internacional mais graves.
Convencidos de que a repressão efetiva dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade é um elemento importante da prevenção desses crimes da proteção dos Direitos do Homem e das liberdades fundamentais, que encorajará a confiança, estimulará a cooperação entre os povos e irá favorecer a paz e a segurança internacionais.
Constatando que a aplicação aos crimes de guerra e aos crimes contra a humanidade das regras de direito interno relativas à prescrição dos crimes comuns inquieta profundamente a opinião pública mundial porque impede que os responsáveis por esses crimes sejam perseguidos e castigados.
Reconhecendo que é necessário e oportuno afirmar em direito internacional, por meio da presente Convenção o princípio da imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade e assegurar sua aplicação universal.
Mais tarde, as notas definidoras de crimes contra humanidade vieram a compor também os Estatutos de Tribunais Penais, incluindo o Tribunal Penal Internacional (TPI), criado pelo Estatuto de Roma[8]. Nestes estatutos, apenas incorporou-se mais um atributo: a sistematicidade das violações aos direitos humanos. Gomes, então, aponta que “a quarta nota, depois amplamente aceita pelos tribunais penais internacionais e pelos tratados internacionais, é (d) a da generalidade ou sistematicidade dos atos desumanos”.
Deste modo, o que se conclui de todo o exposto é que, na década de 70 (período contemporâneo aos fatos tratados nesses autos), há muito já se conhecia a definição de crime de lesa-humanidade, cujas vítimas não são só aqueles indivíduos ou grupos sociais diretamente atingidos pelas condutas, mas toda a humanidade, aviltada em seu próprio sentimento de justiça.
Cabe aqui um pequeno adendo: como se infere de sua conceituação, “crime contra humanidade” não descreve um fato típico, entendido como ação ou omissão previamente descrita em lei como crime. A categoria de “crime contra humanidade” refere-se à uma qualificação atribuída, pelas normas de direito internacional, a crimes já conhecidos e comumente previstos nas legislações internas e não um delito autônomo que carece de tipificação[9] . Os delitos imputados são estupro[10] e sequestro[11], figuras típicas previstas em nosso Código Penal em 1971.
É o contexto histórico em que tais crimes teriam sido praticados pelo acusado que determinam que os mesmos sejam considerados como crimes contra a humanidade.
Pois bem. Hoje já não há mais dúvidas de que as graves violações de direitos humanos perpetradas contra a população civil (torturas, espancamentos, ofensas sexuais, sequestros, desaparecimentos forçados, e outros) foram usadas no Brasil, a partir de 1964 e durante todo o regime ditatorial, como mecanismos institucionais de controle e repressão estatal de opositores políticos e perseguidos do regime. Integravam e determinavam, portanto, a política de Estado adotada pelos detentores do Poder à época.
Faço referência a um parágrafo do Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade (CNV)[12] , concluído em 10 de dezembro de 2014, que resume, de maneira precisa, as principais características do regime e não deixa dúvida de que os delitos praticados contra os opositores se amoldam à perfeição ao conceito de crime contra humanidade:
“Conforme se encontra amplamente demonstrado pela apuração dos fatos apresentados ao longo deste Relatório, as graves violações de direitos humanos perpetradas durante o período investigado pela CNV, especialmente nos 21 anos do regime ditatorial instaurado em 1964, foram o resultado de um a ação generalizada e sistemática do Estado brasileiro. Na ditadura militar, a repressão e a eliminação de opositores Relatório, as graves violações de direitos humanos perpetradas durante o período investigado pela CNV, especialmente nos 21 anos do regime ditatorial instaurado em 1964, foram o resultado de uma ação generalizada e sistemática do Estado brasileiro. Na ditadura militar, a repressão e a eliminação de opositores políticos se converteram em política de Estado, concebida e implementada a partir de decisões emanadas da presidência da República e dos ministérios militares. Operacionalizada através de cadeias de com ando que, partindo dessas instâncias dirigentes, alcançaram os órgãos responsáveis pelas instalações e pelos procedimentos diretamente implicados na atividade repressiva, essa política de Estado mobilizou agentes públicos para a prática sistemática de detenções ilegais e arbitrárias e tortura, que se abateu sobre milhares de brasileiros, e para o cometimento de desaparecimentos forçados, execuções e ocultação de cadáveres. Ao examinar as graves violações de direitos humanos da ditadura militar, a CNV refuta integralmente, portanto, a explicação que até hoje tem sido adotada pelas Forças Armadas, de que as graves violações de direitos humanos se constituíram em alguns poucos atos isolados ou excessos, gerados pelo voluntarismo de alguns poucos militares”.
Da mesma forma, a impossibilidade de um Estado criar, no plano interno, obstáculos legislativos (ou de outra natureza) à punição daqueles que cometeram esse tipo de crime já era vista como regra inescusável pela comunidade internacional no ano em que a Lei de Anistia brasileira foi promulgada. O tema foi tratado em diversas Resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, chegando a afirmar-se diretamente, na Resolução nº 3074[13] (XXVIII), aprovada em sessão plenária em 03 de dezembro de 1973, que (i) os crimes de guerra e os crimes contra humanidade, onde quer que tenham sido cometidos, serão objeto de investigação e as pessoas contra as quais houver evidências de que cometeram tais crimes serão submetidas a investigação, prisão, julgamento, e, se culpadas, punidas; (ii) os Estados membros não poderiam adotar medidas legislativas ou de outra índole que pudessem dificultar a prisão, a extradição e a punição desses delitos.
Assim, na medida em que o Estado brasileiro impede a persecução criminal de um suposto autor de crime de lesa-humanidade, com base na Lei de Anistia, contraria norma de observância imperativa no cenário internacional (com status de jus cogens)[14]: a obrigatoriedade de investigar e, se for o caso, punir civil e criminalmente a conduta.
Diante de todo o exposto, conclui-se que: (a) os crimes contra a humanidade já se encontravam delineados, à época dos delitos denunciados, e eram plenamente reconhecidos pela comunidade internacional; (b) os crimes praticados durante a ditadura militar iniciada com o Golpe de 1964 são crimes contra humanidade; (c) decorre das normas de jus cogens do direito internacional a proibição da edição de leis internas que inviabilizem a priori a investigação desses delitos.
Finalmente, tomando especificamente como parâmetro o Sistema Interamericano de proteção aos Direitos Humanos, a Lei de Anistia infringe os artigos 8 e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos porque limita o escopo da proteção da vítima e de seus familiares, eis que obsta possível reconhecimento oficial de violações graves aos direitos humanos ocorridas durante a ditatura militar.
Esse tem sido o entendimento reiterado da Jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH).
A Corte, ao julgar o caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) versus Brasil[15] , em 24.11.2010 (data posterior ao julgamento da ADPF 153 pelo Supremo Tribunal Federal), indicou, de forma didática, os dispositivos da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos incompatíveis com a Lei da Anistia Brasileira.
A Corte Interamericana considera que a forma na qual foi interpretada e aplicada a Lei de Anistia aprovada pelo Brasil (pars. 87, 135 e 136 supra) afetou o dever internacional do Estado de investigar e punir as graves violações de direitos humanos, ao impedir que os familiares das vítimas no presente caso fossem ouvidos por um juiz, conforme estabelece o artigo 8.1 da Convenção Americana, e violou o direito à proteção judicial consagrado no artigo 25 do mesmo instrumento, precisamente pela falta de investigação, persecução, captura, julgamento e punição dos responsáveis pelos fatos, descumprindo também o artigo 1.1 da Convenção. Adicionalmente, ao aplicar a Lei de Anistia impedindo a investigação dos fatos e a identificação, julgamento e eventual sanção dos possíveis responsáveis por violações continuadas e permanentes, como os desaparecimentos forçados, o Estado descumpriu sua obrigação de adequar seu direito interno, consagrada no artigo 2 da Convenção Americana.
Apesar de, nessa ocasião, a Corte tratar dos desaparecimentos ocorridos no contexto do que ficou conhecido como Guerrilha do Araguaia6, a sentença expressamente afirma que a Lei de Anistia de 1979 não pode impossibilitar a investigação de outros casos de violações graves aos direitos humanos:
Dada sua manifesta incompatibilidade com a Convenção Americana, as disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos carecem de efeitos jurídicos. Em consequência, não podem continuar a representar um obstáculo para a investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e punição dos responsáveis, nem podem ter igual ou similar impacto sobre outros casos de graves violações de direitos humanos consagrados na Convenção Americana ocorridos no Brasil.
Quase oito anos depois, o Estado brasileiro foi novamente condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Herzog e outros vs. Brasil[16], por não garantir a devida proteção judicial aos familiares da vítima.
Com base nas considerações acima, a Corte Interamericana conclui que, em razão da falta de investigação, bem como de julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e pelo assassinato de Vladimir Herzog, cometidos num contexto sistemático e generalizado de ataques à população civil, o Brasil violou os direitos às garantias judiciais e à proteção judicial, previstos nos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana, em relação aos artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento, e em relação aos artigos 1, 6 e 8 da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, em detrimento de Zora, Clarice, André e Ivo Herzog. A Corte conclui também que o Brasil descumpriu a obrigação de adequar seu direito interno à Convenção, constante do artigo 2, em relação aos artigos 8.1, 25 e 1.1 do mesmo tratado, e aos artigos 1, 6 e 8 da CIPST, em virtude da aplicação da Lei de Anistia No. 6683/79 e de outras excludentes de responsabilidade proibidas pelo direito internacional em casos de crimes contra a humanidade, de acordo com os parágrafos 208 a 310 da presente Sentença.
É evidente, portanto, à luz das normas de direito internacional e da interpretação dada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a aplicação da Lei de Anistia para impedir o prosseguimento de processos penais ajuizados em desfavor de supostos autores de crimes contra humanidade viola os artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana, além dos artigos 1.1 e 2.
No ponto, é imperioso destacar um aspecto relevantíssimo das condenações prolatadas pela Corte. Em ambos os casos, para além da inércia do Estado em adequar a sua legislação interna às disposições da Convenção, a omissão do Estado brasileiro deu-se, principalmente, pela omissão do Poder Judiciário em exercer o controle de convencionalidade de suas leis.
Trago aqui fragmentos emblemáticos das já mencionadas sentenças da Corte que corroboram essa afirmação:
Caso Gomes Lund vs. Brasil:
- Este Tribunal estabeleceu em sua jurisprudência que é consciente de que as autoridades internas estão sujeitas ao império da lei e, por esse motivo, estão obrigadas a aplicar as disposições vigentes no ordenamento jurídico. No entanto, quando um Estado é Parte de um tratado internacional, como a Convenção Americana, todos os seus órgãos, inclusive seus juízes, também estão submetidos àquele, o que os obriga a zelar para que os efeitos das disposições da Convenção não se vejam enfraquecidos pela aplicação de normas contrárias a seu objeto e finalidade, e que desde o início carecem de efeitos jurídicos. O Poder Judiciário, nesse sentido, está internacionalmente obrigado a exercer um “controle de convencionalidade” ex officio entre as normas internas e a Convenção Americana, evidentemente no marco de suas respectivas competências e das regulamentações processuais correspondentes. Nessa tarefa, o Poder Judiciário deve levar em conta não somente o tratado, mas também a interpretação que a ele conferiu a Corte Interamericana, intérprete última da Convenção Americana.
- No presente caso, o Tribunal observa que não foi exercido o controle de convencionalidade pelas autoridades jurisdicionais do Estado e que, pelo contrário, a decisão do Supremo Tribunal Federal confirmou a validade da interpretação da Lei de Anistia, sem considerar as obrigações internacionais do Brasil derivadas do Direito Internacional, particularmente aquelas estabelecidas nos artigos 8 e 25 da Convenção Americana, em relação com os artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento. O Tribunal estima oportuno recordar que a obrigação de cumprir as obrigações internacionais voluntariamente contraídas corresponde a um princípio básico do direito sobre a responsabilidade internacional dos Estados, respaldado pela jurisprudência internacional e nacional, segundo o qual aqueles devem acatar suas obrigações convencionais internacionais de boa-fé (pacta sunt servanda). Como já salientou esta Corte e conforme dispõe o artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, os Estados não podem, por razões de ordem interna, descumprir obrigações internacionais. As obrigações convencionais dos Estados Parte vinculam todos sus poderes e órgãos, os quais devem garantir o cumprimento das disposições convencionais e seus efeitos próprios (effet utile) no plano de seu direito interno.
Caso Herzog e outros vs. Brasil:
- A Comissão Interamericana reconheceu que, após a transição para a democracia, o Estado brasileiro adotou ações que contribuíram para o esclarecimento da verdade histórica da detenção ilegal, tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog. Não obstante, a “verdade histórica” constante dos relatórios produzidos pelas comissões da verdade não preenche ou substitui a obrigação do Estado de assegurar a determinação judicial de responsabilidades individuais ou estatais, por meio dos processos pertinentes, motivo pelo qual é obrigação do Estado iniciar e impulsionar investigações penais para determinar as respectivas responsabilidades, em conformidade com os artigos 1.1, 8 e 25 da Convenção.
- A Comissão salientou que, no presente caso, o poder judiciário brasileiro validou a interpretação da Lei No. 6.683/79 (Lei de Anistia). Em virtude disso, a Comissão considerou que as autoridades jurisdicionais que participaram da investigação da detenção arbitrária, tortura e assassinato de Vladimir Herzog impediram a identificação, julgamento e eventual punição dos responsáveis, e não exerceram o devido controle de convencionalidade a que estavam obrigadas após a ratificação da Convenção Americana, em conformidade com as obrigações internacionais do Brasil decorrentes do Direito Internacional. 175. Além disso, a Comissão recordou que a aplicação de leis de anistia ou outras que eximem de responsabilidade e impedem o acesso à justiça em casos de graves violações de direitos humanos gera um duplo dano. Por um lado, torna ineficaz a obrigação dos Estados de respeitar os direitos e liberdades reconhecidos na Convenção Americana e de garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa sujeita à sua jurisdição, sem discriminação de nenhuma natureza. Por outro lado, impede o acesso a informação sobre os fatos e circunstâncias que cercaram a violação de um direito fundamental, e elimina a medida mais efetiva para a vigência dos direitos humanos, qual seja, o julgamento e a punição dos responsáveis, porquanto impede que se coloquem em prática os recursos judiciais da jurisdição interna.
Analisando a sentença do Caso Gomes Lund vs. Brasil, Valerio Mazzuoli[17] assim tratou do tema:
Em suma, o que fez a Corte neste caso foi controlar a convencionalidade (de modo complementar, secundário) da Lei de Anistia brasileira em substituição ao Judiciário nacional, que deveria ter controlado a convencionalidade dessa lei em primeira mão (em face da Convenção Americana) e não o fez. Como já vimos, cabe ao Estado controlar a convencionalidade (interna) das leis, devendo a Corte Interamericana tomar para si a competência de controle (internacional) em caso de inação do Estado ou de julgamento insuficiente, eis que a sua jurisdição é complementar e coadjuvante do Judiciário nacional em matéria de direitos humanos. Foi exatamente o que ocorreu no Caso Gomes Lund perante a Corte Interamericana, em que o tribunal internacional reconheceu não ter o Brasil controlado (como deveria) a convencionalidade da Lei de Anistia, tomando para si a competência (final) de controle.
A consequência prática dessa decisão internacional é que a Lei de Anistia brasileira deixou de ter valor jurídico (é inválida, no sentido já explicado no item 2.3 supra). Ou seja, doravante não poderá o Estado impedir a apuração dos referidos crimes cometidos pelos seus agentes (ditadores ou por quem agiu em nome da ditadura), devendo eliminar todos os obstáculos jurídicos que durante anos impediram as vítimas do acesso à informação, à verdade e à justiça.
O que se nota, portanto, é que as condenações do país pelo organismo interamericano decorrem diretamente da resistência do Poder Judiciário em adotar a Convenção Americana como parâmetro de controle de convencionalidade de suas leis internas.
Nesse ponto é importante registrar que as decisões proferidas pela Corte Interamerica a são dotadas de caráter vinculante, e nisso se distinguem das recomendações exaradas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ambos os órgãos integram o Sistema Interamericano de proteção dos Direitos Humanos.
À grosso modo, pode-se dizer que à Comissão cabe o papel de recomendar a todos os Estadosparte da Convenção Americana de Direitos Humanos, a adoção de providências para constante evolução na proteção dos direitos humanos. Já a Corte é órgão jurisdicional, cuja competência se divide em consultiva e contenciosa. A atribuição consultiva consiste na emissão de parecer acerca da interpretação da Convenção (ou outro tratado de direitos humanos) quando um Estado membro da Organização dos Estados Americanos assim o solicite. Por sua vez, a atribuição contenciosa, aspecto mais relevante para o objeto deste feito, consiste na competência para examinar violações do Estado-parte a direito protegido em sua Convenção e aplicar uma sanção, de caráter obrigatório, ao Estado descumpridor.
A respeito cumpre citar a doutrina de Flávia Piovesan[18] :
A Corte tem jurisdição para examinar casos que envolvam a denúncia de que um Estado-parte violou direito protegido pela Convenção. Se reconhecer que efetivamente ocorreu a violação, determinará a adoção de medidas que se façam necessárias à restauração do direito então violado. A Corte pode ainda condenar o Estado a pagar uma justa compensação à vítima.
A respeito da competência contenciosa da Corte, afirma Antônio Augusto Cançado Trindade: “Os Tribunais internacionais de direitos humanos existentes — as Cortes Europeia e Interamericana de Direitos Humanos — não ‘substituem’ os Tribunais internos, e tampouco operam como tribunais de recursos ou de cassação de decisões dos Tribunais internos. Não obstante, os atos internos dos Estados podem vir a ser objeto de exame por parte dos órgãos de supervisão internacionais, quando se trata de verificar a sua conformidade com as obrigações internacionais dos Estados em matéria de direitos humanos”.
Note-se que a decisão da Corte tem força jurídica vinculante e obrigatória, cabendo ao Estado seu imediato cumprimento. Se a Corte fixar uma compensação à vítima, a decisão valerá como título executivo, em conformidade com os procedimentos internos relativos à execução de sentença desfavorável ao Estado. (Grifos adicionados)
No âmbito da jurisprudência interna, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema. Ao julgar que a tipificação do desacato (art. 331 do CP) não violava a Convenção Americana de Direitos Humanos, o órgão pautou-se, em grande medida, justamente na diferença da natureza persuasiva das decisões prolatadas pela Comissão e pela Corte, consignando que haveria mero caráter recomendatório nos estudos e relatórios expedidos pela Comissão. Todavia, na ementa do julgado, constou expressamente que as condenações do Brasil pela Corte adquirem caráter vinculativo. Vejamos trecho da extensa ementa que trata especificamente do ponto:
- De acordo com o art. 41 do Pacto de São José da Costa Rica, as funções da Comissão Interamericana de Direitos Humanos não ostentam caráter decisório, mas tão somente instrutório ou cooperativo. Desta feita, depreende-se que a CIDH não possui função jurisdicional.
- A Corte Internacional de Direitos Humanos (IDH), por sua vez, é uma instituição judiciária autônoma cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre Dire tos Humanos, possuindo atribuição jurisdicional e consultiva, de acordo com o art. 2º do seu respectivo Estatuto.
- As deliberações internacionais de direitos humanos decorrentes dos processos de responsabilidade internacional do Estado podem resultar em: recomendação; decisões quase judiciais e decisão judicial. A primeira revela-se ausente de qualquer caráter vinculante, ostentando mero caráter "moral", podendo resultar dos mais diversos órgãos internacionais. Os demais institutos, porém, situam-se no âmbito do controle, propriamente dito, da observância dos direitos humanos.
- Com efeito, as recomendações expedidas pela CIDH não possuem força vinculante, mas tão somente "poder de embaraço" ou "mobilização da vergonha".
- Embora a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já tenha se pronunciado sobre o tema "leis de desacato", não há precedente da Corte relacionada ao crime de desacato atrelado ao Brasil
Conclui-se do voto do Exmo. Ministro que, naquelas hipóteses em que a Corte exerça sua função contenciosa e analise caso em que o Brasil seja parte, suas interpretações serão vinculantes, assim como as determinações a serem adotadas pelo Estado.
Deste modo, ao menos desde a primeira condenação brasileira (Caso Gomes Lund), frise-se, ocorrida em data posterior ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADPF 153, o Estado brasileiro (mais precisamente o Poder Judiciário) vem descumprindo as decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, as quais é obrigado a acatar, já que ratificou, em 1998, a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória prevista no artigo 62 da Convenção Americana.
O Exmo. Relator Paulo Espírito Santo consignou em seu voto que a competência contenciosa da Corte só seria prevista para fatos ocorridos depois de 1998. De fato, o Decreto nº 4.463/02, em seu artigo 1º, reconheceu como obrigatória a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos para fatos posteriores a 10 de dezembro de 1998.
Todavia, como já demonstrado, o Estado brasileiro não foi condenado pela Corte Interamericana, tanto no caso Gomes Lund como no Caso Herzog, pela promulgação da lei de anistia ocorrida no ano de 1979. Os fatos pelos quais o Brasil foi condenado dizem respeito à atuação do Poder Judiciário que, em desconformidade com a Convenção Americana, invocou a Lei 6.683/79, após 10.12.98, para reconhecer a extinção de punibilidade dos supostos responsáveis pela prática dos crimes contra humanidade, impedindo sob esse fundamento a persecução penal. Assim sendo, os fatos que ensejaram a condenação brasileira no âmbito do Sistema Interamericano de direitos humanos foram posteriores ao ano de 1998. Ressalto que o tema foi objeto de deliberação e, em ambas as sentenças, a Corte rechaçou as preliminares de incompetência pelo tempo suscitadas pelo Estado Brasileiro, assinalando que “a Corte tem competência para examinar e se pronunciar sobre possíveis violações de direitos humanos a respeito de um processo de investigação ocorrido posteriormente à data de reconhecimento de competência do Tribunal, ainda que esse processo tenha tido início antes do reconhecimento da competência contenciosa.” (Caso Herzog e Outros).
Nessa esteira, é evidente que, caso mantida a rejeição de denúncia a partir da aplicação da Lei de Anistia, será manifesta a recalcitrância do Poder Judiciário em exercer o controle de convencionalidade que se impõe a todo e qualquer magistrado, nos termos da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, intérprete máxima da Convenção, e dos próprios Tribunais Superiores. A questão, portanto, se resume a aplicar o direito vigente, desde que compreendido em sua amplitude, inclusive no que diz respeito às obrigações assumidas pelo Brasil no plano internacional.
Com base no que fora delineado, entendo que, em razão do conflito entre as disposições da Lei de Anistia (Lei 6.683/79) e a norma supralegal (Convenção Americana de Direitos Humanos), são inaplicáveis os dispositivos dessa legislação que impedem a persecução penal de acusados de praticar crimes contra humanidade, nos exatos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
(c) Da imprescritibilidade dos crimes contra humanidade
Neste voto, já foram estabelecidas as seguintes premissas: os crimes praticados durante a ditadura militar são crimes contra humanidade, cuja definição já havia sido incorporada às normas jus cogens de direito internacional em 1964; decorre também de normas de caráter obrigatório a proibição da adoção de leis ou mecanismos que impeçam a persecução penal de possíveis autores de crimes de lesa-humanidade; as decisões e interpretações tomadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos são vinculantes e submetem o Estado parte às suas deliberações.
Cabe agora enfrentar a questão da imprescritibilidade dos crimes contra humanidade.
Tal princípio foi consagrado na Convenção Sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade, aprovada no ano de 1968 e cujo preâmbulo já mencionei nesse voto.
A não ratificação pelo Brasil do referido tratado não tem o condão de afastar a obrigatoriedade dessa norma de aplicação erga omnes. É preciso lembrar que, em 1968, o país já vivia há 4 anos em uma ditadura militar, não havendo, por óbvio, qualquer interesse ou incentivo dos governantes em aderir a uma convenção dessa espécie, cujas consequências desfavoráveis lhes seriam diretamente aplicáveis.
Porém, é significativo assinalar que, após o retorno à democracia, abriu-se espaço para que o país avançasse na proteção aos direitos humanos. Apesar de não ter ainda ratificado a referida convenção sobre imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra humanidade, o Brasil, por meio do Decreto Legislativo no 112, de 6 de junho de 2002, aprovou o texto do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Nele é contemplada inequivocamente a imprescritibilidade dos crimes de competência daquele Tribunal, ou seja, os crimes de genocídio, contra a humanidade, de guerra, e de agressão (artigo 5º). Por certo que o Tribunal Penal Internacional só será competente para julgar os autores de crimes cometidos após a entrada em vigor do Estatuto, mas aqui o relevante é constatar que o Congresso Nacional, ao adotar o texto do Estatuto, reconheceu o princípio de direito internacional de imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade e formalmente o integrou ao nosso ordenamento. Lembremos que o Estatuto de Roma é também tratado internacional em matéria de direitos humanos, que não fora aprovado pelo quórum especial previsto no art. 5§ 3º da CF, logo, assume o caráter de norma supralegal, cuja consequência é a paralisação da lei ordinária nacional, no caso a aplicação dos dispositivos referentes à prescrição para os crimes de lesa-humanidade.
Desta forma, a imprescritibilidade dos crimes contra humanidade não é em nada incompatível com a Constituição Federal, que, inclusive, atesta que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II da CRFB).
Ressalto que alguns doutrinadores, a exemplo de Luiz Flávio Gomes[19], consideram, inclusive, que a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade esteja contida na própria Constituição, mais precisamente em seu art. 5º, LIV
Quais são as três hipóteses de imprescritibilidade no Brasil? A CF, como é sabido, prevê (expressamente) duas hipóteses de imprescritibilidade: (a) o racismo (CF, art. 5º, inc. XLII) e (b) a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático (CF, art. 5º, inc. LIV). Há uma terceira situação de imprescritibilidade, presente no plano internacional, que versa sobre os crimes contra a humanidade (ou crimes de lesa-humanidade). Essa espécie de imprescritibilidade, que na verdade não passa de uma extensão ou complementação (ou seja: de um desdobramento) do que está previsto no citado art. 5º, LIV, da CF, vem dos chamados Princípios de Nuremberg, de 1950 (que foram aprovados e adotados pela ONU).
No mais, basta dizer que a Corte Interamericana de Direitos Humanos já consolidou em sua jurisprudência a incompatibilidade da aplicação de regras ordinárias internas de prescrição com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Vejamos fragmentos dessas decisões que tocam especialmente na impossibilidade de invocação da prescrição como obstáculo à apuração da prática de crimes contra humanidade.
Caso Herzog e Outros vs. Brasil:
- Em complemento à argumentação citada acima, observa-se que a proibição dos delitos de direito internacional ou contra a humanidade já era considerada parte do direito internacional geral pela própria Convenção sobre Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e Contra a Humanidade, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 26 de novembro de 1968 (doravante denominada “Convenção de 1968” ou “Convenção sobre Imprescritibilidade”). Levando em conta a resolução 2338 (XXII) da Assembleia Geral das Nações Unidas, a interpretação que se infere do Preâmbulo da Convenção de 1968 é que a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade surge da falta de limitação temporal nos instrumentos que se referem a seu indiciamento, de tal forma que essa Convenção somente reafirmou princípios e normas de direito internacional preexistentes. Assim, a Convenção sobre Imprescritibilidade tem caráter declarativo, ou seja, acolhe um princípio de direito internacional vigente anteriormente à sua aprovação.
- Essa circunstância tem duas consequências principais: a) por um lado, os Estados devem aplicar seu conteúdo, embora não a tenham ratificado; e b) por outro lado, quanto a seu âmbito temporal, deveria aplicar-se, inclusive, aos crimes cometidos anteriormente à entrada em vigor daquela Convenção, já que o que se estaria aplicando não seria propriamente a norma convencional, mas uma norma consuetudinária preexistente.
(...)
- Desde sua primeira sentença, esta Corte destacou a importância do dever estatal de investigar e punir as violações de direitos humanos. A obrigação de investigar e, oportunamente, processar e punir assume particular importância diante da gravidade dos delitos cometidos e da natureza dos direitos lesados, especialmente em vista da proibição das execuções extrajudiciais e tortura como parte de um ataque sistemático contra uma população civil. A particular e determinante intensidade e importância dessa obrigação em casos de crimes contra a humanidade significa que os Estados não podem invocar: i) a prescrição; ii) o princípio ne bis in idem; iii) as leis de anistia; assim como iv) qualquer disposição análoga ou excludente similar de responsabilidade, para se escusar de seu dever de investigar e punir os responsáveis. Além disso, como parte das obrigações de prevenir e punir crimes de direito internacional, a Corte considera que os Estados têm a obrigação de cooperar e podem v) aplicar o princípio de jurisdição universal a respeito dessas condutas.
Caso Gomes Lund vs. Brasil:
- Este Tribunal já se pronunciou anteriormente sobre o tema e não encontra fundamentos jurídicos para afastar-se de sua jurisprudência constante, a qual, ademais, concorda com o estabelecido unanimemente pelo Direito Internacional e pelos precedentes dos órgãos dos sistemas universais e regionais de proteção dos direitos humanos. De tal maneira, para efeitos do presente caso, o Tribunal reitera que “são inadmissíveis as disposições de anistia, as disposições de prescrição e o estabelecimento de excludentes de responsabilidade, que pretendam impedir a investigação e punição dos responsáveis por graves violações dos direitos humanos, como a tortura, as execuções sumárias, extrajudiciais ou arbitrárias, e os desaparecimentos forçados, todas elas proibidas, por violar direitos inderrogáveis reconhecidos pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos”.
Destarte, como sucessivas vezes afirmado, cabe ao Estado brasileiro adequar a sua atuação às deliberações da Corte a que voluntariamente se submeteu, o que nesse caso consiste em tornar ineficaz, a partir do controle de convencionalidade, os dispositivos prescricionais quando aplicados a crimes contra humanidade.
(d) conclusão
Diante de tudo que até aqui foi dito, torna-se inequívoco que o julgamento da ADPF nº 153 pelo Supremo Tribunal Federal, no ano de 2010, não esgotou e não poderia esgotar a discussão acerca da eficácia da Lei de Anistia, em especial pela superveniência das condenações do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos nos anos que se seguiram. Inclusive, foi somente em razão dessa primeira condenação brasileira que se deu a aprovação da Lei 12.528/11, através da qual criou-se a Comissão da Verdade, a fim de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas. Observe-se que o Brasil foi um dos últimos países da América Latina a estabelecer comissão desse tipo. Naquela altura, países vizinhos, como Argentina (2005) e Chile (2006), por exemplo, já contavam com pronunciamentos judiciais de suas respectivas Cortes Constitucionais acerca da impossibilidade de aplicação de leis internas de anistia para autores de crimes contra humanidade.
Mesmo diante de condenações vinculantes da Corte Americana de Direitos Humanos e da existência de um movimento regional de revisões das leis internas de anistia frente ao Pacto de São José da Costa Rica, o país e, mais especificamente o Poder Judiciário, reluta em lidar com o seu passado e adotar um modelo transicional adequado às obrigações jurídicas assumidas no plano internacional. Essa dificuldade de enfrentar as graves violações cometidas em nome do Estado estão amparadas em uma cultura do esquecimento, da qual algumas das consequências, reconhecidas pela comunidade internacional, são a perpetuação de estruturas de poder autoritárias e legitimação de violências policiais e torturas cometidas nos dias de hoje contra a população civil.
Assim, diante da existência de conjunto probatório mínimo a embasar o recebimento da denúncia e do reconhecimento, em face das normas de direito internacional e interno, de que os crimes contra humanidade são imprescritíveis e inanistiáveis, há que ser recebida a denúncia em face de ANTÔNIO WANEIR PINHEIRO LIMA pela prática dos crimes de sequestro e estupro.
Isto posto, DOU PROVIMENTO à Carta Testemunhável para jugar imediatamente o Recurso em Sentido Estrito, e DAR-LHE PROVIMENTO para receber a denúncia, nos termos da súmula 709 do STF, com base na fundamentação supra.
É como voto.
SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
[1] LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Editora: Zahar; Edição: 1ª, p. 21, 2018.
[2] Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/coletaneas-deartigos/07_18_coletanea_de_artigos_justica_de_transicao. Acesso em: 9 de agosto de 2019.
[3] STJ, RHC 109.737/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019.
[4] STJ, AgRg no AREsp 1275084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019.
[5] MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. Editora: Revista dos Tribunais – 4ª ed, p. 160, 2016.
[6] GOMES, Luiz Flávio. Crimes contra a Humanidade: Conceito e Imprescritibilidade (Parte II) Disponível em https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1633577/crimes-contra-a-humanidade-conceito-e-imprescritibilidade-parte-ii. 09 de agosto de 2019.
[7] Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declara%C3%A7%C3%B5es-e-TratadosInternacionais-de-Prote%C3%A7%C3%A3o/convencao-sobre-a-imprescritibilidade-dos-crimes-de-guerra-e-dos-crimes-contraa-humanidade.html. Consulta em 06 de agosto de 2019.
[8] O referido estatuto foi ratificado no ano de 2002 pelo Brasil e incorporado ao ordenamento jurídico interno por meio do Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002.
[9] Este entendimento não se mostra incompatível com o que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RHC nº 121.835 e por mim sustentado nos Embargos Infringentes 0807725-91.2007.4.02.5101. Isto porque, na ocasião, o STF apenas proibiu que, antes da Lei 12.850/13, a Convenção de Palermo criasse um tipo penal (organização criminosa) e cominasse sanções sem um ato normativo formal interno.
[10] Cito, exemplificativamente, os seguintes documentos produzidos em âmbito internacional que identificaram o estupro e crimes sexuais cometidos de forma sistemática e generalizada, e empregados como parte da repressão estatal, contra a população civil como crimes contra humanidade: (a) 1945, Control Council Law n. 10, proclamada pelos Estados aliados logo após o final da guerra; (b) 1949, Convenção de Genebra (art. 27) e seu protocolo adicionais I de 1977; (c) 1998, Estatuto de Roma; (d) jurisprudência internacional nos julgamento dos crimes cometidos na ex-Iugoslávia e em Ruanda.
[11] Embora o sequestro, em si, não seja expressamente mencionado nos Princípios de Nuremberg, enquadra-se perfeitamente no conceito aberto de “outros atos inumanos”. Da mesma forma, o Estatuto de Roma, em seu art. 7.1, k, possui uma cláusula ampla, a permitir o sequestro, quando praticado em contexto de violações sistemáticas dos direitos humanos.
[12] Disponível em: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_1_digital.pdf Consulta em: 09 de agosto de 2019.
[13]Disponível em: https://undocs.org/es/A/RES/3074(XXVIII)&Lang=E&Area=RESOLUTION. Tradução nossa. Consulta em: 09 de agosto de 2019.
[14] “A noção de jus cogens é definida pelo artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que estabelece que “É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de Direito Internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de Direito Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma natureza”.
A norma de jus cogens é, portanto, uma norma de Direito Internacional à qual a sociedade internacional atribui importância maior e que, por isso, adquire primazia dentro da ordem jurídica internacional, conferindo maior proteção a certos valores entendidos como essenciais para a convivência coletiva. As normas de jus cogens são também conhecidas como “normas imperativas de Direito Internacional” ou “normas peremptórias de Direito Internacional” ou, ainda, “obrigações erga omnes”, visto que devem valer em todo o âmbito da sociedade internacional. A principal característica do jus cogens é a imperatividade de seus preceitos, ou seja, a impossibilidade de que suas normas sejam confrontadas ou derrogadas por qualquer outra norma internacional, inclusive aquelas que tenham emergido de acordos de vontades entre sujeitos de Direito das Gentes, exceto quando substituídas por outras normas imperativas de Direito Internacional. O jus cogens configura, portanto, restrição direta da soberania em nome da defesa de certos valores vitais. Outra característica importante do jus cogens é a aplicabilidade de suas normas para todos os Estados, ainda que estes não tenham expressamente manifestado sua anuência a respeito, o que se deve a sua importância maior para o desenvolvimento da vida da comunidade internacional.” (PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado: Incluindo Noções de Direitos Humanos e Direito Comunitário. Editora: JusPODIVM, p. 70-71, 2017.)
[15] Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf. Consulta em: 09 de agosto de 2019.
[16] Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/corte-reabrir-investigacao-herzog.pdf. Consulta em: 09 de agosto de 2019.
[17] Id, 2016, p. 211.
[18] Piovesan, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. Ed. 14 - São Paulo : Saraiva, 2013.
[19] GOMES, Luiz Flávio. DONATI, Patricia. Denúncia Genérica versus Ampla Defesa, Contraditório e Dignidade da Pessoa Humana. Disponível em: https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1628316/crimes-contra-a-humanidade-conceito-eimprescritibilidade-parte-i Consulta em: 09 de agosto de 2019.