ANISTIA, TORTURA, REPÚBLICA E DEMOCRACIA
Marlon Alberto Weichert
Eugênia Augusta Gonzaga Fávero
I - Contextualização
Desde 20081 a sociedade brasileira discute o alcance e a validade jurídica da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, conhecida como Lei de Anistia. Esse diploma jurídico concedeu anistia aos autores de crimes políticos e conexos cometidos entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. Não pairam dúvidas de que foram abrangidos pelo benefício penal os autores de crimes praticados contra o Estado, por motivação política, tais como os dissidentes políticos e resistentes ao regime ditatorial instaurado em 1964. Entretanto, vigora acirrada polêmica sobre o perdão aos agentes estatais (militares e civis) que, no bojo das atividades de repressão à dissidência política, cometeram graves violações aos direitos humanos, notadamente torturas2, abusos sexuais, sequestros, homicídios e desaparecimentos forçados. Até aquele ano prevaleceu no imaginário brasileiro – de modo quase absoluto – o dogma da anistia bilateral. Os poucos julgados sobre o tema simplesmente afirmaram, sem qualquer apreciação técnica do
1 Nesse ano, a divisão de tutela coletiva cível da Procuradoria da República em São Paulo propôs ação civil pública contra os ex-comandantes do DOI/CODI de São Paulo requerendo a responsabilização pessoal por terem coordenado as torturas, os homicídios e os desaparecimentos forçados nesse Estado. Também apresentou representações criminais contra autores de torturas e homicídios. O tema ganhou projeção política a partir de audiência pública realizada no Ministério da Justiça, oportunidade em que os Ministros da Justiça e da Secretaria Especial de Direitos Humanos e o presidente do Conselho Federal da OAB manifestaram concordância com a tese da Procuradoria da República em São Paulo de inaplicabilidade da lei de anistia aos crimes dos agentes da repressão e imprescritibilidade desses delitos (crimes contra a humanidade). Nesse mesmo ano o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propôs Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no Supremo Tribunal Federal com o objetivo de ser conferida “uma interpretação conforme à Constituição, de modo a declarar, à luz dos seus preceitos fundamentais, que a anistia concedida pela citada lei aos crimes políticos ou conexos não se estende aos crimes comuns praticados pelos agentes da repressão contra opositores políticos, durante o regime militar (1964/1985)”.
2 Eram práticas comuns: o uso do pau de arara e da cadeira do dragão, a aplicação de choques elétricos, inclusive no pênis, nos seios e na vagina, os espancamentos e as sevícias, perpetradas nos suspeitos de militância política ou seus familiares, inclusive crianças e adolescentes. Estima-se em 30.000 o número de pessoas presas ilegalmente e torturadas pelos órgãos da repressão no Brasil.
conteúdo da norma, que a anistia impedia a persecução penal dos suspeitos, numa repetição da interpretação oficial fixada durante a própria ditadura. Retomado o caminho da democracia em nosso País e o compromisso constitucional com os direitos humanos, é dever dos operadores jurídicos – agora livres da (re)pressão política – avaliar o conteúdo técnico da Lei de Anistia e, acima de tudo, sua compatibilida de com o direito constitucional material, seja o vigente antes do golpe de Estado de 1964, como o atual. Esse artigo pretende demonstrar que não só os comandos legais veiculados na Lei de Anistia foram insuficientes para beneficiar os crimes da repressão, como também as Constituições republicanas brasileiras de 1946 e 1988 impediam (e impedem) que o legislador (poder constituído subordinado à Lei Maior) concedesse anistia a crimes tão graves.
Ou seja, a interpretação de que a Lei nº 6.683/79 instituiu anistia aos agentes repressivos é incompatível com preceitos constitucionais que vigoravam à época de sua edição. Logo, se a Lei de Anistia pretendeu estender o perdão criminal aos perpetradores estatais de violações aos direitos humanos, não teve nenhum valor jurídico, pois a norma estará fulminada por inconstitucionalidade material originária.3
II – Terrorismo de Estado não é crime político
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela impossibilidade de caracterização dos crimes de terrorismo, inclusive terrorismo de Estado, como crimes políticos. Ao apreciar o pedido de Extradição nº 855, da República do Chile (Rel. Min. Celso de Mello, j.
3 Dispõe a lei: “Art. 1º. É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, (...)
§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política.
26/8/04, unânime), a Corte fixou que o “estatuto da criminalidade política” não se aplica “às práticas terroristas, sejam aquelas cometidas por particulares, sejam aquelas perpetradas com o apoio oficial do próprio aparato governamental, à semelhança do que se registrou, no Cone Sul, com a adoção, pelos regimes militares sul-americanos, do modelo desprezível do terrorismo de Estado”4. Diz ainda a ementa do acórdão:
“- Os atos delituosos de natureza terrorista, considerados os parâmetros consagrados pela vigente Constituição da República, não se subsumem à noção de criminalidade política, pois a Lei Fundamental proclamou o repúdio ao terrorismo como um dos princípios essenciais que devem reger o Estado brasileiro em suas relações internacionais (CF, art. 4º, VIII), além de haver qualificado o terrorismo, para efeito de repressão interna, como crime equiparável aos delitos hediondos, o que o expõe, sob tal perspectiva, a tratamento jurídico impregnado de máximo rigor, tornandoo inafiançável e insuscetível da clemência soberana do Estado e reduzindo-o, ainda, à dimensão ordinária dos crimes meramente comuns (CF, art. 5º, XLIII).
- A Constituição da República, presentes tais vetores interpretativos (CF, art. 4º, VIII, e art. 5º, XLIII), não autoriza que se outorgue, às práticas delituosas de caráter terrorista, o mesmo tratamento benigno dispensado ao autor de crimes políticos ou de opinião, impedindo, desse modo, que se venha a estabelecer, em torno do terrorista, um inadmissível círculo de proteção que o faça imune ao poder extradicional do Estado brasileiro. (...)
- O terrorismo - que traduz expressão de uma macrodelinqüência capaz de afetar a segurança, a
§ 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal.”
4 Ementa e p. 25 do voto do Relator; grifos originais.
integridade e a paz dos cidadãos e das sociedades organizadas - constitui fenômeno criminoso da mais alta gravidade, a que a comunidade internacional não pode permanecer indiferente, eis que o ato terrorista atenta contra as próprias bases em que se apóia o Estado democrático de direito, além de representar ameaça inaceitável às instituições políticas e às liberdades públicas, o que autoriza excluí-lo da benignidade de tratamento que a Constituição do Brasil (art. 5º, LII) reservou aos atos configuradores de criminalidade política.” (grifos originais) Além da incompatibilidade ontológica entre crime político e terrorismo de Estado, os delitos dos agentes estatais também não se qualificam como crimes políticos em função da ausência dos requisitos objetivos e subjetivos necessários a tanto.
Crimes políticos são aqueles praticados com motivação política (elemento subjetivo) e em face de bens jurídicos da ordem política (elemento objetivo). Ou seja, a caracterização do crime político reclama que a motivação e o bem jurídico violado sejam de natureza política. Trata-se da aplicação da teoria mista: crimes políticos puros (também denominados próprios) são crimes praticados contra o Estado, por motivação política.5
Os crimes praticados pelos agentes estatais na repressão à dissidência política não visavam atingir o Estado. Ao contrário, objetivavam “protegê-lo” contra os que pretendiam abalar o poder. Assim, suas condutas não preenchem o requisito objetivo qualificador do crime político, ou seja, não provocavam danos a bens jurídicos da organização política do Estado. Esses ilícitos, ademais, também não eram motivados pelo desejo de atingir o Estado e sequer podem ser considerados crimes políticos impróprios.
5 STF, RE 160.841-2-SP (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, unânime, j. 3/8/95). Vide, em especial, o votovista do Min. Celso de Mello. Ver também Ext. nº 1.008/Colômbia, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/3/2007, Pleno, unânime, com ênfase novamente no voto do Min. Celso de Mello.
Os agentes da repressão não agiam de acordo com o elemento subjetivo de “atentar contra a segurança do Estado” (FRAGOSO)6, ou “inspirados por esse resultado” (HUNGRIA)7, mas sim para vitimar os que assim o faziam. Suas condutas eram norteadas à apuração dos atos da dissidência política e à prevenção de ações por eles consideradas subversivas. Em suma, os autores desses delitos não agiam contra o Estado, mas sim em seu nome. Logo, esses delitos tampouco podem ser reputados como crimes políticos impróprios, ou relativos, pois sequer foram praticados com motivação política, ou seja, a intenção de praticar lesão ou dano, direto ou indireto, à ordem política. As condutas violentas perpetradas pelos torturadores, sequestradores e homicidas estatais não trazem, portanto, em o elemento objetivo (dano a bens estatais) nem o subjetivo (vontade de agir contra o
Estado) da criminalidade política, tanto na figura dos delitos próprios como na dos impróprios. São meros crimes comuns. De fato, elas não são compatíveis com o tratamento da criminalidade meramente política, como aponta MELLO: “Estuprar, matar, desintegrar física ou moralmente uma pessoa em lugar nenhum da terra pode ser entendido como um crime político. Trata-se evidentemente de um ato abjeto, infra-humano, inconfundível (...) com uma conduta política ou suscetível de ser juridicamente havida como animada por móvel político.”8
6 FRAGOSO, Heleno. Terrorismo e Criminalidade Política. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 36.
7 HUNGRIA, Nelson. Compêndio de direito penal. Rio de Janeiro: Jacinto, 1936, p. 35, apud SILVA, Carlos Augusto Canedo Gonçalves da. Crimes políticos. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p. 66.
8 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Imprescritibilidade dos crimes de tortura. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; KISHI, Sandra Akemi Shimada (Coord.). Memória e verdade: a justiça de transição no Estado Democrático brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2009. cap. 6, p. 136.
A própria Lei da Anistia seguiu esse mandamento e no parágrafo 2º, artigo 1º, excepcionou de seu alcance os crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Os dissidentes políticos que cometeram tais crimes não foram anistiados. Aliás, quando editada a Lei nº 6.683/79 eles já haviam sido processados e condenados. Em decorrência, a reafirmação do princípio da incompatibilidade do terrorismo com o crime político não os afeta para submetê-los novamente à persecução penal, sob pena de bis in idem.
III - Crimes conexos com crimes políticos
Além dos crimes políticos, anistiados pelo caput do art. 1º da Lei nº 6.683/79, o benefício foi concedido também aos crimes que lhes fossem conexos. Porém, nem todos os delitos conexos foram anistiados. O parágrafo 1º do art. 1º determina que o benefício se aplica apenas aos crimes de qualquer natureza: b.1. “relacionados com crimes políticos”; ou b.2. “praticados com motivação política”. Assim, a Lei usou dois critérios para definir quais crimes conexos receberam o benefício. No primeiro caso, se baseou na natureza da conexão: qualquer crime, desde que materialmente conexo com o político, foi anistiado. Na segunda figura, adotou um critério em razão da natureza do crime conexo: todos os crimes praticados com motivação política, em qualquer modalidade de conexão com o delito político, foram beneficiados. Na primeira figura referida (quaisquer crimes relacionados com crimes políticos), a lei enfatizou a necessidade de um vínculo material entre o crime comum e o crime político. Assim, ao insistir que crime “conexo” é aquele que precisa estar “relacionado” a crime político, a lei contemplou no benefício da anistia somente os casos de conexão material (CPP, art. 76, I e II). De fato, quando há relação entre os crimes se concretiza o instituto da conexão substantiva, também chamada material, pois na 7 conexão meramente probatória (CPP, art. 76, III) o vínculo é apenas entre as provas dos delitos, sem que haja liame entre as condutas. Ocorre que não se identifica possibilidade de xistência de vínculo material entre o crime do dissidente político e o delito do agente repressor, ou seja, de conexão substantiva entre eles. Os crimes da repressão não são relacionados” com os crimes políticos dos opositores do regime.
O artigo 76, incisos I e II, do Código de Processo Penal, define a conexão material pela (1) existência da coautoria ou do concurso de agentes, (2) pela prática de crimes por várias essoas, umas contra as outras e, ainda, (3) se os ilícitos ouverem sido praticados para facilitar ou ocultar outros, ou ara conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer deles. No caso de crimes praticados no “combate”, em nome do governo, aos opositores políticos, não se islumbra – obviamente – coautoria ou concurso de agentes entre perseguidores e perseguidos (primeira e segunda figuras do inciso I do art. 76). Tampouco pode se referir a ocorrência de crimes recíprocos (terceira figura do inciso I), pois nesse caso se exige a simultaneidade das condutas. Ademais, os dissidentes políticos – quando praticaram ilícitos penais – não o fizeram em face dos mesmos agentes que posteriormente vieram a vitimá-los. Seus delitos voltaram-se, como regra, contra o Estado, ou terceiros (particulares). Não há, portanto, identidade recíproca de sujeitos ativos e passivos dos crimes.9 Por fim, também não é possível identificar relação circunstancial de acessoriedade entre eles (inciso II). Na segunda figura prevista no parágrafo 1º exsurge a hipótese da anistia a crimes de qualquer natureza praticados com motivação política, conexos a crimes políticos. E esta hipótese, como visto acima, não
9 Igual entendimento é esposado por BICUDO, Helio. Anistia desvirtuada. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, nº 53, p. 88, mar/abr. 2005.
acolhe as perpetrações de violações aos direitos humanos praticadas pelos agentes estatais. Logo, não se verifica previsão jurídica que permita considerar os crimes praticados pelos agentes estatais, na repressão aos dissidentes políticos, como crimes comuns conexos materialmente a crimes políticos. A análise da lei sob enfoque positivista ou principiológico revela que a tortura e os outros atos violentos dos representantes do Poder Público não receberam o benefício da anistia, seja como crimes políticos ou conexos a estes. Ademais, conforme se demonstrará a seguir, a interpretação abrangente em favor desses servidores públicos tampouco é conciliável com os princípios fundamentais da Constituição brasileira.
IV – A anistia a graves violações a direitos humanos é incompatível com a proteção da dignidade da pessoa humana
Independentemente da existência ou não de lei fixando a discutida anistia, o elemento mais importante é que diversos princípios constitucionais impediam e impedem que o legislador ordinário concedesse ou conceda esse benefício penal a agentes do próprio Estado, autores de graves crimes atentatórios aos direitos humanos. Toda a pauta axiológica da Constituição aponta para a impossibilidade de serem criados ou mantidos obstáculos normativos ou materiais para a investigação e responsabilização de graves crimes atentatórios aos direitos humanos. A tortura, o tratamento desumano e degradante, o crime hediondo e a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático mereceram reprovação expressa e extraordinária no plano constitucional (art. 5º, III, XLIII, XLIV), carecendo os poderes constituídos de competência para garantir-lhes impunidade.
A reprovação desses delitos é, portanto, um mandamento constitucional, cujo desrespeito atenta contra diversos preceitos fundamentais. Destaque-se que não se trata de princípios constitucionais inaugurados no regime jurídico brasileiro com a Constituição de 1988. Todos eles são corolários do Estado de Direito Republicano e, portanto, materialmente constitucionais desde, ao menos, a proclamação da República. Assim, ainda que formalmente a Constituição estivesse mutilada pelo regime de exceção (lembre-se que a Constituição democrática em vigor ao tempo do golpe de Estado foi substituída pela Carta outorgada em 1967, pela Emenda Constitucional nº 1/69 e pelos Atos Institucionais), a validade constitucional de uma anistia aos agentes da repressão deve ser apreciada à luz dos princípios materiais de um Brasil democrático, especialmente aqueles realçados nas Constituições de 1946 e 1988. O primeiro elemento constitucional a invalidar qualquer pretensão de considerar anistiáveis atos de tortura reside no princípio da dignidade da pessoa humana. Trata-se de um dos fundamentos do Estado brasileiro (CF/88: arts. 1º, III), reafirmado no postulado da repulsa à tortura (art. 5º
III). O dever do Estado de tratar dignamente a todos os cidadãos não é, por óbvio, criação do constituinte de 1988, podendo esse preceito ser desdobrado do disposto no artigo 141, caput, da Constituição de 1946 (“[a] Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade”), bem como da própria Carta outorgada em 1969: “[i]mpõe-se a tôdas as autoridades o respeito à integridade física e moral do detento e do presidiário” (EC 1/69: art. 153, § 14).A razão existencial do Estado é, antes de tudo, a promoção dos direitos fundamentais dos seus cidadãos. Ainda que muitas vezes seja discutida a existência de um rol mínimo desses direitos fundamentais ouhumanos (conforme a orientação naturalista ou positivista), está acima de qualquer outra cogitação a certeza de que a proteção da dignidade da pessoa humana paira sobranceira em qualquer Estado de Direito democrático.
Conforme aponta MELLO: “2. Será difícil encontrar algo mais agressivo à dignidade da pessoa humana e à cidadania e, pois, mais agressivo a dois dos fundamentos da República, do que a tortura. Igualmente, não se concebe o que possa ser mais contraditório a uma sociedade livre, justa e solidária, do que causar deliberadamente os piores sofrimentos físicos e ou morais a uma pessoa. Também nunca se diria estar pautado pela prevalência dos direitos humanos, uma conduta que colocasse a salvo de punição comportamentos tais como os mencionados. (...) Eis, pois, que não pode padecer a mais remota, a mais insignificante dúvida de que a tortura epresenta a antítese dos valores básicos que a Constituição Brasileira professa enfaticamente. Donde, prestigiar a impunidade de torturadores é uma contradição radical e óbvia aos princípios essenciais do Estado Brasileiro.” O ordenamento jurídico, com efeito, é incompatível com a impunidade dos atos de tratamento cruel e tortura. Mesmo não tendo o Código Penal de 1940 tipificado especificamente esse crime, isso não significava falta de previsão para sua responsabilização, pois a conduta estava indiretamente contemplada na figura do homicídio qualificado e das lesões corporais. Em realidade, o que está em jogo é a adequação
10 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Imprescritibilidade dos crimes de tortura. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; KISHI, Sandra Akemi Shimada (Coord.). Memória e verdade: a justiça de transição no Estado Democrático brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2009. cap. 6, p. 135-136.
constitucional de um perdão criminal que possa ser dado pelo Estado a seus agentes que violaram direitos fundamentais do cidadão, ou seja, o valor jurídico de uma autoanistia, diante do preceito fundamental de preservação da dignidade da essoa humana e de repulsa absoluta à tortura. Diante desses parâmetros constitucionais não há como privilegiar uma interpretação de leis que possam significar impunidade aos crimes aqui tratados, como também afirma MELLO: “Não há como, então, entre duas interpretações possíveis, adotar aquela que ao invés de repelir a proteção aos incursos em crimes hediondos favorece sua blindagem contra a aplicação da justiça. Eis, pois, que da lei de anistia não se pode extrair subtração de torturadores às responsabilidades penais, civis e administrativas, pelos atos bestiais que praticaram.”V - Estado de Direito, Republicano e Democrático, com promoção da verdade
O reconhecimento da anistia aos crimes dos agentes da repressão é incompatível com os princípios republicano e do stado de Direito. Esses preceitos – umbilicalmente imbricados caracterizadores do Estado brasileiro desde 188912 – trazem omo corolários inafastáveis: o compromisso do Estado com o império da Lei, a responsabilidade dos agentes públicos pelos atos que praticam e a impessoalidade na gestão dos interesses públicos. Manter imunes à lei penal os autores dos bárbaros atos referidos neste artigo fere a autoridade do stado de Direito, pois indica à O reconhecimento da anistia aos crimes dos agentes da repressão é incompatível com os princípios republicano e do stado de Direito. Esses preceitos – umbilicalmente imbricados caracterizadores do Estado brasileiro desde 188912 – trazem omo corolários inafastáveis: o compromisso do Estado com o império da Lei, a responsabilidade dos agentes públicos pelos atos que praticam e a impessoalidade na gestão dos interesses públicos. Manter imunes à lei penal os autores dos bárbaros atos referidos neste artigo fere a autoridade do stado de Direito, pois indica à
11 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Imprescritibilidade dos crimes de tortura. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; KISHI, Sandra Akemi Shimada (Coord.). Memória e verdade: a justiça de transição no Estado Democrático brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2009. cap. 6, p. 137.
sociedade que o Poder Público pode violar a integridade física moral de seus cidadãos, pode persegui-los e pode sequestrá-los ou matá-los, impunemente. Não se trata aqui de mero exercício de enquadramento dos crimes à norma abstrata da lei. Mas sim de admitir a possibilidade do legislador ordinário afrontar o conteúdo material (os valores) do conjunto normativo do País, o qual é vinculado à promoção dos direitos fundamentais e ao respeito do cidadão. Lembre-se que o Estado detém o monopólio do uso da violência, vinculado à promoção da segurança pública. O emprego ilegítimo e desvirtuado desse poder estatal, mormente para atingir a dignidade das pessoas humanas, não recebe acolhida no Estado de Direito. Como aponta CORREIA: “(...) a utilização da Lei de Anistia para os que se encontram fora do poder é ato compreensível, já que se trata de indulgência penal, por parte do Estado, aos que se encontram agindo fora dos limites da legalidade. No entanto, o Estado não pode ser indulgente, com o escopo de promover a paz social, na mesma proporção, com os que detém o poder. A razão é óbvia: fazê-lo implicaria a admissão da violência por aquele que, originariamente, é posto à disposição de seu combate e da manutenção da ordem existente. A única violência admitida ao agente estatal é aquela juridicamente autorizada – já que, ao suprimir parte da vontade privada, o direito em si representa uma limitação ao agir individual. A violência permitida ao Estado é decorrente do Direito.” Nem mesmo a alegação de prática do terrorismo pelos dissidentes do regime poderia dar suporte às condutas de torturar, sequestrar e assassinar esses militantes ou quaisquer outros suspeitos. Os
12 CF/88: arts. 1º, caput e parágrafo único, 5º, XXXIII; EC 1/69: art. 1º, caput e parágrafo único; CF/46: art.
1º; CF/37, art. 1º; CF/34, art. 1º e CF/1891, art. 1º.
13 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Anistia para quem? In: SOARES, Inês Virgínia Prado; KISHI, Sandra Akemi Shimada (Coord.). Memória e verdade: a justiça de transição no Estado Democrático brasileiro.
Belo Horizonte: Fórum, 2009. cap. 7, p. 144.
agentes da segurança pública estão sempre adstritos à lei e esta – nem mesmo durante o regime de exceção da ditadura – previu o uso dessas práticas. O Estado de Direito é quem fornece os instrumentos para o combate à criminalidade. Fora desses limites, é o agente público quem envereda pelo caminho do crime, praticando a violência arbitrária. Por outro lado, admitir uma lei de autoperdão – outorgada pelo Estado autoritário em favor de seus agentes – é desconsiderar a essência do princípio republicano, que repousa sobre a responsabilidade dos administradores públicos pelos seus atos e pelo dever de impessoalidade. As autoanistias são artifícios de impunidade, mediante os quais os perpetradores de violações aos direitos humanos se concedem imunidade penal pelos atos que cometeram. Ora, é evidente que ao próprio regime que pratica – ou praticava – a violação não cabe a iniciativa de se autoperdoar. Essa conduta atenta contra os prefalados princípios da responsabilidade e da impessoalidade, pois implicaria admitir que o Estado pode conferir a seus servidores um regime de proteção e impunidade, em razão da defesa pessoal que fizeram do governo e de seus ideais. Estar-seia adotando parâmetros de um regime absolutista, com a irresponsabilidade dos agentes públicos e a confusão dos interesses estatais com os pessoais. Ainda que o Estado autoritário tenha perdoado alguns delitos dos opositores políticos, isso não o investia de competência para conceder igual benefício aos seus agentes. As situações jurídicas e o desvalor constitucional das condutas de uns e de outros são flagrantemente distintos. O Poder Público não detinha e não detém autorização constitucional para se autoanistiar:
“Não haveria como se admitir que crime cometido sob o manto de Estado fosse anistiado. Seria como se admitir que, atuando pelo Estado – que propõe a ordem -, o agente pudesse negar a essência de seu ordenamento e, após, ter14 lhe aplicada hipótese que leva à extinção do próprio crime. Ora se o tipo penal é previsto a partir de atuação do próprio Estado, não é possível, por indulgência e ato próprio, a exclusão da incidência, para seus agentes, de todos os efeitos decorrentes da existência da figura típica que fez inserir no mundo jurídico. Um contra-senso completo à luz da dinâmica jurídica. (...) Apagar deste tipo de criminoso o crime que lhe foi imputado seria como desmanchar a própria razão e lógica de existência do Estado e de todo o seu ordenamento – criando uma impunidade de natureza institucional, que invade mais do que a vida privada, já que passa a habitar a esfera do público. Passa-se, com exemplo da história, a se admitir qualquer violência, não consentida juridicamente, do Estado – o que estende os seus braços nos dias atuais, já que se abre precedente jurídico para situações que convalidariam, por exemplo, casos de violência policial.”
Oportuno lembrar que a Lei nº 6.683/79 não é fruto de um Estado democrático. Na data em que editada o país ainda estava sob o regime ditatorial e a plena vigência do Ato Institucional nº 5/68. O Congresso Nacional estava mutilado pelas cassações e vivia sob a ameaça do recesso por ordem presidencial, conforme ocorrera apenas 2 anos antes (“pacote” de abril de 1977 – Ato Complementar nº 102). Outrossim, por força da Emenda Constitucional nº 8, também de 1977, houvera eleição indireta para o Senado Federal, com a introdução da figura popularmente apelidada de “senador biônico”. A Lei nº 6.683/79 foi um ato normativo produzido formalmente pelo Congresso, mas eivado pelo vício materia l do regime autoritário. Não se pode sequer afirmar que foi fruto de um pacto político
14 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Anistia para quem? In: SOARES, Inês Virgínia Prado; KISHI,
Sandra Akemi Shimada (Coord.). Memória e verdade: a justiça de transição no Estado Democrático brasileiro.
Belo Horizonte: Fórum, 2009. cap. 7, p. 145.
democrático, pois o déficit de legitimidade na representação da sociedade no Congresso impede esse reconhecimento. Tampouco se pode falar em pacto em virtude da ausência de correlação de forças no processo legislativo. A norma acabou sendo uma concessão do governo aos dissidentes políticos15, os quais tiveram apenas a opção de aderir à anistia. É evidente que, em virtude da grave situação das famílias que tinham parentes exilados, banidos ou presos, a sociedade acolheu o benefício sem maiores questionamentos. O movimento social engajou-se, sobretudo, na tentativa de ampliar a anistia aos réus condenados por crimes de sangue, o que não aconteceu, conforme o § 2º do art. 1º da Lei. A aplicação da anistia viola também na atualidade o princípio democrático. São corolários do ideal de democracia o direito à justiça e à verdade. Nesse sentido, consolidou-se a figura da Justiça de Transição, que se assenta em um conjunto de medidas consideradas necessárias para a superação de eríodos de graves violações a direitos humanos ocorridas no bojo de conflitos armados (v.g., guerras civis) ou de regimes autoritários (ditaduras)16, especialmente: esclarecimento da verdade, mediante Comissões de Verdade e processos judiciais; realização da justiça (responsabilização dos violadores de direitos humanos); reparação de danos às vítimas; reforma dos serviços de segurança; e instituição de espaços de memória.
A promoção desses valores é indispensável para a consecução do objetivo da não repetição. As medidas de Justiça Transicional são instrumentos de prevenção contra novos regimes autoritários partidários da violação de direitos humanos, especialmente por demonstrar à sociedade que esses atos em hipótese alguma podem ficar
15 Nessa época, não havia mais nenhuma organização de militância política dissidente em atuação. Todos os grupos haviam sido desmobilizados ou aniquilados pela repressão.
16 Vide Relatório do Secretário-Geral da ONU ao Conselho de Segurança: The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies. Agosto de 2004 (S/2004/616).
impunes e esquecidos. Como destacam TAVARES e AGRA, a Justiça de Transição “(...) representa uma prestação de contas com o passado, no que evita que fantasmas possam ressurgir e prejudicar o futuro. Pretende impedir a proliferação de uma cultura de impunidade, alicerce de práticas (passadas e futuras) contrárias aos direitos humanos”18. Aliás, é notório que o uso da tortura e da violência como meios de investigação ainda hoje pelos aparatos de segurança brasileiros decorre – em grande medida – dessa cultura da impunidade. A falta de responsabilização dos agentes públicos que realizaram esses atos no passado inspira e dá confiança aos atuais perpetradores. É o que confirmaram empiricamente SIKKINK e WALLING: países da América Latina que promoveram ações de responsabilização dos perpetradores de crimes contra a humanidade cometidos durante as respectivas ditaduras e instituíram Comissões de Verdade possuem, hoje, uma democracia e um respeito aos direitos humanos em patamar mais elevado. E nenhum deles experimentou retrocesso por ter promovido justiça e verdade.19
VI - Prevalência dos direitos humanos
Como já manifestado, o Estado brasileiro encontra fundamento na cidadania e na dignidade da pessoa humana. Essa proeminência do respeito aos direitos fundamentais do cidadão se estende também ao âmbito das relações internacionais, as quais devem ser desenvolvidas sob o princípio da prevalência dos direitos humanos.
17 BLICKFORD, Louis. Transicional Justice (verbete). In The Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, Macmillan Reference USA, 2004. Reproduzido em http://www.ictj.org/static/TJApproaches/WhatisTJ/macmillan.TJ.eng.pdf.
18 TAVARES, André Ramos; AGRA Walber de Moura. Justiça Reparadora no Brasil. In: SOARES, Inês
Virgínia Prado; KISHI, Sandra Akemi Shimada (Coord.). Memória e verdade: a justiça de transição no Estado Democrático brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2009. cap. 3, p. 71-72.
19 SIKKINK, Kathryn; WALLING, Carrie Booth. The impacts of human rights trials in Latin America.Journal of Peace Research, Los Angeles, London, New Delhi and Singapore, v. 44, nº 4, p. 427-445. 2007. Segundo o estudo, “Brazil experienced a greater decline in its human rights practices than any other transitional country in the region.” (p. 437).
De fato, o Brasil, ao menos desde a promulgação das Convenções de Haia, em 1907 (ratificadas em 1914), e especialmente com a subscrição da Carta de São Francisco (1945) de constituição das Nações Unidas, assumiu na comunidade internacional o papel de corresponsável pela promoção dos direitos humanos. O País participou, ainda, da promulgação da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ambas de 1948, as quais consagraram os princípios do direito à vida, a ser submetido ao devido processo legal e de não ser submetido a tortura, tratamento ou pena cruel, desumano ou degradante (Declaração Americana, artigos I, XXV e XXVI; Declaração Universal, artigos III e V). E, mais recentemente, ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil está vinculado a essa ordem internacional e proteção aos direitos humanos por força de decisão de sua própria Constituição, que determina que o Estado se regerá em suas relações internacionais com base no princípio da prevalência desses direitos (art. 4º, II). Esse preceito é reforçado pelas normas ampliativas do rol de direitos fundamentais constantes do §§ 2º a 4º do artigo 5º. Nesse contexto de vinculação constitucional ao direito internacional dos direitos humanos, o Estado brasileiro está jungido à norma que lhe impõe a responsabilização de graves violações aos direitos da pessoa humana. A comunidade internacional – com a participação do Brasil – firmou desde o Tribunal de Nüremberg (1945), cujos princípios foram ratificados na primeira sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas (Resolução nº 95, 194620), que em relação a crimes de guerra, contra a paz
20 Resolução nº 95 (I), 55ª reunião plenária de 11 de dezembro de 1946. Disponível em: http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/036/55/IMG/NR003655.pdf?OpenElement.
e contra a humanidade, a promoção da persecução penal é um imperativo inafastável. Há, portanto, preceito de jus cogens (norma internacional imperativa), geradora de uma obrigação erga omnes internacional, que retira da alçada do Estado o perdão de crimes contra a humanidade, caracterizados pela prática de atos desumanos, como o homicídio, a tortura, as execuções sumárias, extralegais ou arbitrárias e os desaparecimentos forçados, cometidos em um contexto de ataque generalizado e sistemático contra uma população civil, em tempo de guerra ou de paz.21 Assim, em decorrência das obrigações internacionais do Estado brasileiro, não poderia o direito interno veicular norma garantidora de anistia a esses delitos. Conforme já pronunciou a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso Almonacid Arellanos): “107. (...) o Secretário Geral das Nações Unidas assinalou que considerando as normas e os princípios das Nações Unidas, os acordos de paz aprovados por ela nunca podem prometer anistias por crimes de lesa-humanidade22. 108. A adoção e aplicação de leis que outorgam anistia por crimes de lesa-humanidade impede o cumprimento das obrigações assinaladas. O Secretário-Geral das Nações Unidas, em seu informe sobre o estabelecimento do Tribunal Especial para Serra Leoa, afirmou que ‘[a]inda que seja reconhecido que a anistia é um conceito jurídico aceito e uma amostra de paz e reconciliação no fim de uma guerra civil ou de um conflito armado interno, as Nações Unidas mantêm sistematicamente a posição de que a anistia não
21 Cf. Caso “Almonacid Arellano y otros Vs. Chile”. “Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones y Costas”. Sentença de 26 de setembro de 2006. Série C, nº 154. Par. 96. Disponível em: .
22 Cf. “Informe del Secretario General sobre el Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”, S/2004/616, de 3 de agosto de 2004. Par. 10. Referências contidas no original.
pode ser concedida com relação a crimes internacionais como o genocídio, os crimes de lesa-humanidade ou as infrações graves do direito internacional humanitário’.23”24 A matéria também foi tratada no Caso Barrios Altos. No dizer da Corte, há “manifesta incompatibilidade entre as leis de auto-anistia e a Convenção Americana”, carecendo essas leis “de efeitos jurídicos”.25 Nesse julgamento, o juiz brasileiro Cançado Trindade apresentou voto-vista no qual destaca: “5. As denominadas auto-anistias são, em suma, uma afronta inadmissível ao direito à verdade e ao direito à justiça (passando pelo próprio acesso à justiça)26. São elas manifestamente incompatíveis com as obrigações gerais - indissociáveis - dos Estados-Partes na Convenção Americana de respeitar e garantir os direitos humanos por ela protegidos, assegurando o livre e pleno exercício dos mesmos (nos termos do artigo 1(1) da Convenção), assim como de adequar seu direito interno à norma internacional de proteção (nos termos do artigo 2 da Convenção.”27 Mas não é toda e qualquer anistia que pode ser reputada incompatível com a proteção de direitos humanos. Porém, “essas leis se encontram submetidas a limites relativamente claros impostos elo direito penal internacional. Uma amnistia geral, no caso de raves violações de direitos humanos (a violação do direito à vida e à integridade física), e que,
23 Cf. “Informe del Secretario General sobre el establecimiento de un Tribunal para Sierra Leona”, S/2000/915, de 4 de octubre de 2000. Par. 22. Referências contidas no original.
24 Tradução livre do texto. Cf. Caso “Almonacid Arellano y otros Vs. Chile”. “Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones y Costas”. Sentença de 26 de setembro de 2006. Série C, nº 154. Pars. 107-109. Disponível em:.
25 Cf. “Caso Barrios Altos Vs. Perú”. “Fondo”. Sentença de 14 de março de 2001. Série C, nº 75. Par. 43/44. Disponível em: .
26 Cf. “Voto Razonado Conjunto de los Jueces A.A. Cançado Trindade y A. Abreu Burelli”, no Caso “Loayza Tamayo” (“Reparaciones”, Sentença de 27 de novembro de 1998), Série C, nº 42, Par. 2-4; e cf. “L.Joinet (rapporteur)”, “La Cuestión de la Impunidad de los Autores de Violaciones de los Derechos Humanos (Derechos Civiles y Políticos) - Informe Final, ONU/Comisión de Derechos Humanos”, doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20, de 26 de junho de 1997, p. 1-34. Referências contidas no texto original.
27 Tradução livre do texto. Cf. Caso “Barrios Altos Vs. Perú”. “Voto Juez Cançado Trindade”. Disponível em: .
além disso, favoreça as forças de segurança do Estado só pode ser qualificada como contrária ao direito internacional.” 28 Assim, quando membros das Forças Armadas e da polícia no Brasil praticavam, nos anos sessenta e setenta, o sequestro, a tortura, o homicídio e a ocultação de cadáveres, dentro de um padrão de perseguição a qualquer suspeita de dissidência política, cometeram delitos reputados – já então – como crimes contra a humanidade, independentemente do contexto de uma guerra. É particularmente importante que não se tenha dúvidas quanto à existência de um regime jurídico específico sobre crimes contra a humanidade, vigente antes da perpetração por agentes do governo brasileiro dos graves crimes aqui tratados. A antijuridicidade da conduta de matar e torturar em larga escala era evidente a qualquer um, mormente após os horrores da Segunda Guerra Mundial e a condenação internacional dos responsáveis29. Ressalte-se que não há a necessidade de consumação de um genocídio. É suficiente que se verifique a prática de apenas um ato ilícito no contexto da perseguição ampla para que consume um crime contra a humanidade: “um só ato cometido por um agente no contexto de um ataque generalizado ou sistemático contra a população civil traz consigo responsabilidade penal e individual, e o agente não necessita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsável.”30
28 AMBOS, Kai. Impunidade por violação dos direitos humanos e o direito penal internacional. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 12, nº 49, p. 76, jul./ago. 2004. Grafia conforme o original.
29 Outros Estatutos recentes confirmaram o conceito do crime contra a humanidade: Estatuto do Tribunal Penal Internacional para a Iugoslávia, artigo 5, e do Tribunal Penal para Ruanda, artigo 3 e, especialmente, o artigo 7 do Estatuto de Roma (17 de julho de 1998), que criou o TribunalPenal Internacional – ratificado e promulgado pelo Brasil em 2002 (Decreto nº 4388, de 25 de setembro de 2002).
30 Tradução livre do texto. Cf. Caso “Prosecutor v. Dusko Tadic”. IT-94-1-T. “Opinion and Judgement”. 7 de maio de 1997. Par. 649. Disponível em: e.pdf>. Acesso em 25 set. 2007. Igual entendimento foi posteriormente firmado pelo Tribunal em “Prosecutor v. Kupreskic”. IT-95-16-T. “Judgement”. 14 de Janeiro de 2000. Pár. 550, Disponível em: ; e “Prosecutor v. Kordic and Cerkez” 9. IT-95-14/2-T. “Judgement”. 26 de fevereiro de 2001. Par. 178. Disponível em: http://www.un.org/icty/kordic/trialc/judgement/kor-tj010226e.pdf.
É norma internacional cogente a punição dos autores de crimes contra a humanidade. Trata-se de um princípio de respeito obrigatório por todos os países por força do costume internacional. Esse preceito afasta qualquer possibilidade de, por ato interno, o País conceder anistia aos autores desses delitos. Embora as normas que tratam do conceito e regime jurídico dos crimes contra a humanidade fossem costumeiras nos anos sessenta e setenta, elas devem ser, nos termos constitucionais, aplicadas internamente, em conjunto com o direito legislado brasileiro. O costume é “a mais antiga e original fonte do direito internacional” (STEINER e ALSTON)31. A própria Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, em seu artigo 38, reconhece que regras de um tratado podem obrigar Estados não firmatários da avença quando for “regra consuetudinária de Direito Internacional, reconhecida como tal”32. E mais, que nem mesmo um tratado pode errogar norma consuetudinária imperativa (jus cogens onsuetudinário), conforme seu artigo 53. A Corte de Haia, em Parecer Consultivo de 1951 sobre as Reservas à Convenção de Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio, fixou que o conteúdo material das convenções de direitos humanos é obrigatório mesmo àqueles Estados que não firmaram o ato convencional: “os princípios subjacentes à Convenção são princípios reconhecidos pelas nações civilizadas e obrigam aos Estados mesmo sem qualquer obrigação convencional.” 33 Em 1996 esse entendimento foi reafirmado pela Corte: “todos os Estados devem cumprir essas normas fundamentais, tenham ou não ratificado todos os tratados que as estabelecem, porque constituem
31 Tradução livre do texto. STEINER, Henry J.; ALSTON, Philip. International Human Rights in Context: Law, politics, morals. New York: Oxford University Press, 2000, p. 69.
32 Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 26 de maio de 1969. Disponível em: .
33 Tradução livre do texto. No original: “the principles underlying the Convention are principles which are recognized by civilized nations as binding on States even without any conventional obligation.” Cfr.CARVALHO RAMOS, André de. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 56 e nota de rodapé nº. 100.
princípios invioláveis do Direito Internacional Consuetudinário”, confirma CARVALHO RAMOS.34 Há, destarte, obrigações erga omnes dos Estados de cumprir as normas imperativas reconhecidas pelo direito internacional (jus cogens), sejam elas consuetudinárias ou convencionais.35 É o que ocorre com as normas internacionais relativas aos direitos humanos, as quais são reconhecidas como integrantes do jus cogens e de observância obrigatória por todos os Estados. No dizer da Corte Internacional de Justiça: são valores essenciais para toda a comunidade internacional. Não é necessário considerar a revogação ou derrogação de normas positivas locais, mas sim a aplicação do direito internacional consuetudinário sempre que o fato sub judice tenha repercussão no cumprimento de uma obrigação internacional vinculante do Estado brasileiro, como ocorre nas hipóteses das obrigações erga omnes. Como aponta MAGALHÃES: “Dessa forma, os poderes do Estado, inclusive o Judiciário, não podem ignorar preceitos de Direito Internacional em decisões que repercutem na esfera internacional e que, por isso, podem acarretar a responsabilidade internacional do Estado e da própria pessoa responsável pela decisão. Afinal, o Juiz é o Estado e atua em seu nome, sobretudo quando decide questões que interferem com a ordem internacional de observância compulsória, como as que dizem respeito aos direitos humanos, genocídio, crimes contra a humanidade e outras a que a comunidade internacional confere tal qualidade.”36
34 CARVALHO RAMOS, André de. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 57.
35 Cfr. BAPTISTA, Eduardo Correia. ‘Ius cogens’ em direito internacional. Lisboa: Lex, 1997, p. 291, citando decisão da Corte Internacional de Justiça. CARVALHO RAMOS, André de. Processo Internacional de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 50.
36 MAGALHÃES, José Carlos de. O Supremo Tribunal Federal e o Direito Internacional: uma análise crítica.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 16-17; grifos são nossos.
Esse entendimento tem sido, aliás, adotado sem dificuldades pelo Supremo Tribunal Federal, que em diversas ocasiões utilizou o costume internacional para resolver lides que no direito interno encontrariam solução distinta. A Corte reconhece a força normativa do costume internacional, em conjunto com o direito interno brasileiro. É o que ocorre, por exemplo, com o admissão da imunidade de jurisdição aos Estados estrangeiros. Nem o direito positivo interno do Brasil, e tampouco algum texto de convenção ou tratado, regulamentam sua aplicação. A Suprema Corte brasileira, em 1973, decidiu que essa imunidade valia no Brasil por força do costume internacional e impedia o exercício do direito de ação regulado no direito interno (RE 56.466/DF, Rel. Min. BILAC PINTO, Pleno, RTJ 66/727).37Em outro precedente – decorrente de um litígio entre os Estados da Síria e do Egito relativamente à propriedade de um imóvel situado no Brasil – a Corte afastou a aplicação da Lei de Introdução ao Código Civil (segundo a qual o foro brasileiro seria o único competente para decidir ações relativas a imóveis no Brasil), para determinar a aplicação dodireito internacional público consuetudinário (ACO 298-DF, Pleno, maioria, Rel. para o acórdão Min. Decio Miranda. RTJ 104/889). Em 1989 o Supremo Tribunal Federal voltou a decidir com base no costume internacional. Tratava-se, nesse caso, de ação trabalhista contra representação diplomática da República Democrática da Alemanha e, mais uma vez, foi aplicado o costume relativo à imunidade de jurisdição dos Estados estrangeiros (RTJ 133/159, AC 9.696/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Pleno, unânime). O diálogo direto entre o ordenamento interno e as categorias normativas internacionais de direitos humanos não onvencionais já foi objeto de outras decisões paradigmáticas do Supremo Tribunal Federal, tais como: ADIn nº 3.741, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Declaração Universal de Direitos do Homem); HC nº 81.158-2, Relatora Min. Ellen Gracie (Declaração Universal dos Direitos da Criança – 1959); HC nº 82.424-RS, Relator para o Acórdão Min. Maurício Corrêa (Declaração Universal dos Direitos Humanos, em especial no parágrafo 47 do voto do Min. Maurício Corrêa); RE nº 86.297, Relator Min. Thompson Flores (Declaração Universal dos Direitos do Homem); e ADIn nº 3.510, Relator Min. Carlos Britto (Declaração Universal sobre Bioética). Portanto, as normas do direito internacional costumeiro relativas ao crime contra a humanidade obrigam o Estado brasileiro e interagem com as normas domésticas de direito penal. O Brasil, por força de seus compromissos internacionais e da admissão constitucional da prevalência dos direitos humanos, não pode anistiar seus agentes públicos que perpetraram crimes de lesa humanidade.
VII - Conclusão
Em síntese, a tese da anistia aos agentes públicos que praticaram graves violações aos direitos humanos durante a ditadura militar, não resiste: (a) à interpretação técnica do próprio conteúdo da lei; (b) ao crivo da constitucionalidade material, seja em relação à Constituição de 1946, à Emenda Constitucional de 1969 ou à Constituição de 1988; e (c) ao regime constitucional de aplicação do direito internacional dos direitos humanos, especialmente as normas imperativas relativas aos crimes contra a humanidade e à vedação de autoanistia. Importante ressaltar: não se trata de revogar uma anistia que já teria operado seus efeitos, mas sim de reconhecer que ela nunca teve o condão de produzir o benefício alardeado. Seja porque seu texto jamais contemplou a anistia bilateral, seja em decorrência da incompatibilidade dessa interpretação com preceitos fundamentais das Constituições brasileiras e do direito internacional incorporado ao sistema jurídico pátrio. Antes mesmo da instauração da ditadura militar, m 1964, vigoravam causas jurídicas que impediam o Estado de deixar impunes e esquecidos os bárbaros atentados que seus agentes aplicaram à dignidade humana.
37 Em igual sentido, o julgado publicado na RTJ 104/990.
Bibliografia:
AMBOS, Kai. Impunidade por violação dos direitos humanos e o direito penal internacional. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 12, nº 49, p. 76, jul./ago. 2004.
BAPTISTA, Eduardo Correia. ‘Ius cogens’ em direito internacional. Lisboa: Lex, 1997.
BICUDO, Helio. Anistia desvirtuada. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, nº 53, p. 88, mar/abr. 2005.
BLICKFORD, Louis. Transicional Justice (verbete). In The Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, Macmillan Reference USA, 2004. Reproduzido em.
CARVALHO RAMOS, André de. Processo Internacional de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
_______. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Anistia para quem? In: SOARES, Inês Virgínia Prado; KISHI, Sandra Akemi Shimada (Coord.). Memória e verdade: a justiça de transição no Estado Democrático brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2009. cap. 7.
FRAGOSO, Heleno. Terrorismo e Criminalidade Política. Rio de Janeiro: Forense, 1981.
HUNGRIA, Nelson. Compêndio de direito penal. Rio de Janeiro: Jacinto, 1936, p. 35, apud SILVA, Carlos Augusto Canedo Gonçalves da. Crimes políticos. Belo Horizonte: Del Rey, 1993.
MAGALHÃES, José Carlos de. O Supremo Tribunal Federal e o Direito Internacional: uma análise crítica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Imprescritibilidade dos crimes de tortura. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; KISHI, Sandra Akemi Shimada (Coord.). Memória e verdade: a justiça de transição no Estado Democrático brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2009. cap. 6.
SIKKINK, Kathryn; WALLING, Carrie Booth. The impacts of human rights trials in Latin America. Journal of Peace Research, Los Angeles, London, New Delhi and Singapore, v. 44, nº 4, p. 427-445. 2007.
STEINER, Henry J.; ALSTON, Philip. International Human Rights in Context: Law, politics, morals. New York: Oxford University Press, 2000.
TAVARES, André Ramos; AGRA Walber de Moura. Justiça Reparadora no Brasil. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; KISHI, Sandra Akemi Shimada (Coord.). Memória e verdade: a justiça de transição no Estado Democrático brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2009. cap. 3.
Todos os Documentos
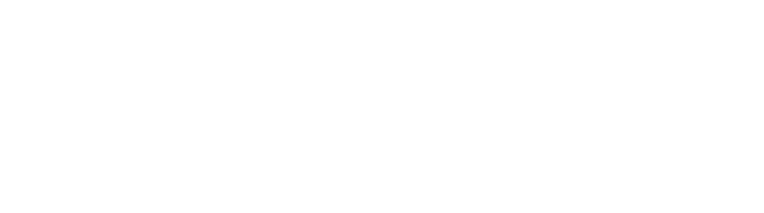
Reunir institucionalmente magistrados comprometidos com o resgate da cidadania do juiz, por meio de uma participação transformadora na sociedade.
- Rua Maria Paula, 36 - 11º andar, Conj.B
Bela Vista, São Paulo-SP, CEP: 01219-904
- Tel.: (11) 3242-8018 / Fax.: (11) 3105-3611
