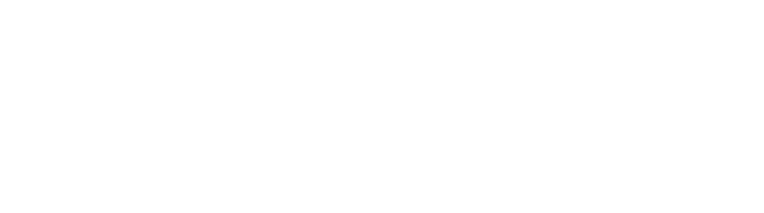Independência, cidadania e vida!
A Associação Juízes para a Democracia - AJD, entidade sem fins lucrativos ou corporativistas, que reúne juízas e juízes de todos os ramos do Poder Judiciário em torno da defesa da democracia e dos direitos humanos, na ocasião em que se celebra o bicentenário da Independência do Brasil, vem a público renovar seus compromissos históricos com um sistema de justiça democrático, acessível e emancipador.
É corrente a afirmação de muitos historiadores (José Murilo de Carvalho, A Cidadania no Brasil, 2017, p. 32), de que a principal característica do processo de Independência do Brasil foi a negociação entre a elite nacional, a coroa portuguesa e a Inglaterra, com a mediação de D. Pedro e José Bonifácio.
As guerras de Independência, no entanto, mobilizaram milhares de combatentes em conflitos espalhados pela Bahia, Pernambuco, Maranhão, São Paulo e Rio de Janeiro. Os mortos em combate desmentem o "mito da independência sem sangue, de uma separação entre pai e filho, de um desquite amigável" (José Honório Rodrigues, Independência:Revolução e Contra-Revolução). A despeito disso, há consenso quanto ao caráter anti-popular de seu legado.
Isso porque o processo de independência deflagrado em 1822, concilliatório e conservador, não apenas manteve a monarquia como regime de governo, como, principalmente, não alterou o modo de produção cuja pedra angular era a escravidão.
Mesmo com o advento da Constituição de 1824, a imensa maioria da população teve seu direito de cidadania negado, pois “85% eram analfabetos, incapazes de ler um jornal, um decreto do governo, um alvará da justiça, uma postura municipal”. A legislação civil vigente à época mencionava a população negra apenas nas disposições sobre direitos patrimoniais, tratando-a como “coisa” e a legislação criminal punia práticas culturais dos povos africanos, como forma de controle pelo poder punitivo. Os povos indígenas não eram sequer mencionados. Às mulheres eram negados direitos, dentre os quais o direito ao voto.
O povo, mesmo tendo sido convocado para as lutas, não se beneficiou com seus frutos. Antes, permaneceu como espectador na divisão dos despojos, tal como o carreiro do quadro de Pedro Américo. Um processo decidido de cima para baixo, em que a participação popular foi silenciada e apagada, sem que suas lutas tivessem como resultado reconhecimento, benefícios ou a outorga de direitos de cidadania.
A memória do processo histórico da Independência deve ser crítica e, nessa medida, não pode significar um elogio ao elitismo, à exclusão, ao bacharelismo e à cultura jurídica do liberalismo político das oligarquias que convivia com uma visão de democracia sem participação popular e, sobretudo, com o paradoxo insuperável de um Direito que, por um lado reconhecia a liberdade como direito universal e, por outro, ao mesmo tempo, admitia como práticas juridicamente aceitas o tráfico de pessoas e a escravização de seres humanos.
“A total rejeição de um regime político em que o povo tivesse, não a soberania, mas uma porção, ainda que mínima, de poder, já fazia parte das convicções de nossos publicistas, mesmo os mais liberais, desde que, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, surgira no horizonte a possibilidade de nossa independência política” (Fábio Konder Comparato, A Oligarquia Brasileira).
Nessa situação soavam falsos “os discursos afirmando a soberania do povo, pregando a igualdade e a liberdade como direitos inalienáveis e imprescritíveis do homem, quando, na realidade, se pretendia manter escravizada boa parte da população e alienada da vida política outra parte” (Emília Viotti da Costa, Da Monarquia à República, Momentos Decisivos).
Importante destacar que o processo de Independência foi apoiado por uma magistratura que, à época, “simbolizava uma expressão significativa do poder do Estado, ungid(a) para interpretar e aplicar a legalidade estatal, garantir a segurança do sistema e resolver os conflitos de interesses entre as elites dominantes” (Antonio Carlos Wolkmer, A História do Direito no Brasil).
Se esse era o papel dos juízes em 1822, qual deve ser seu papel no Brasil 200 anos depois?
Assim, por ocasião dos 200 anos da Independência, é preciso refletir sobre o país que queremos: um país no qual, tal como em 1822, apenas uma pequena elite pode exercer a plenitude de seus direitos ou um país verdadeiramente soberano, em que inclusão, igualdade e emancipação não sejam apenas palavras vazias?
Um Poder Judiciário herdeiro da ética colonial-patrimonialista ou uma magistratura comprometida com a concretização da dignidade humana e dos direitos das populações subalternizadas e marginalizadas?
Que as celebrações do bicentenário da Independência sejam uma ocasião propícia para a reflexão e construção de um Poder Judiciário a serviço de um projeto igualitário e inclusivo de país.