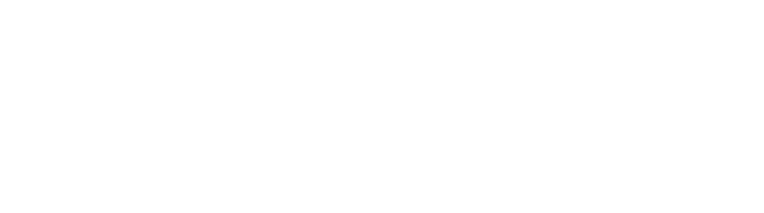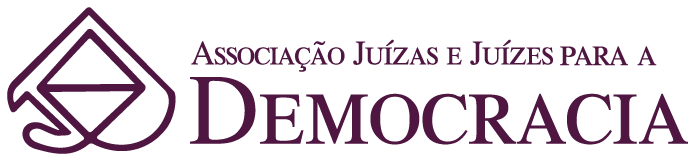“O olhar que prende anda solto
O olhar que solta anda preso”
Recentemente, em plena pandemia do Covid-19, o governo de Jair Messias Bolsonaro enviou ao Congresso a Proposta de Emenda Constitucional n. 32. Trata-se de proposição de reforma da administração pública. O enfrentamento do tema é fundamental, uma vez que envolve a modificação, já em andamento faz tempo, da estrutura do estado brasileiro.
Antes de tratar do assunto, no entanto, algumas observações preliminares são indispensáveis.
Se, a partir de Marx, podemos entender que a dinâmica do capital se constitui a partir da coleção de mercadorias, com o jurista russo Evgeni Pachukanis compreendemos, com maior profundidade, a leitura marxiana de que aquelas não vão ao mercado sozinhas, sendo indispensáveis, para isso, os sujeitos de direito. Assim, se, no modo de produção capitalista, temos a sobredeterminação da forma mercadoria, na relação dialética entre produção e circulação, esta não se concretiza na materialidade sem a subjetividade jurídica. Seja para a produção, seja para a circulação, o que ampara o capitalismo é uma série de relações contratuais (não no sentido meramente jurídico do termo, mas também neste) hasteadas numa de caráter matricial: a de compra e venda da força de trabalho – que se processa por sujeitos livres, iguais e proprietários. Sobre isso muito já pronunciou Pachukanis. Enfim, sujeito de direito e ideologia jurídica são os substratos desta forma jurídica ou contratual.
Para realizar esta tarefa que contém em si a ideologia do contrato realizado (uma ideologia única, como lembrava Louis Althusser, que nos interpela cotidianamente no sentido da alienação da força de trabalho), o estado possui aparelhos repressivos (a polícia, o exército e assim por diante), mas também é provido de aparelhos ideológicos (que não se circunscreve apenas ao estado no seu sentido restrito, mas estende-se à sociedade civil – escolas, sindicatos etc.). Portanto, esse aparelhamento é fundamental para que a ideologia que viabiliza a reprodução do contrato acima se realize.
Por outro lado, como uma das mais imediatas derivações da dialética produzida pela forma mercadoria-forma jurídica (contratual), temos a forma-estado. Se, em geral, o estado nos é apresentado como o portador do interesse público, Pachukanis demostra que esta é apenas a sua aparência. O estado emerge como neutro, já que não haveria possiblidade de violência direta sobre o produtor da mercadoria. Se, em outros modos de produção, isso era possível, no capitalismo, a coerção passará a ser econômica e o estado terá papel fundamental nesta passagem, já que será o detentor do monopólio da violência autorizado por sua “legitimidade”. Aqui, a aparência do púbico e de seu distanciamento do privado é fundamental para o capitalismo. A equação direito público versus direito privado é a expressão desta hipótese no campo jurídico, estendendo seus tentáculos sobre as esferas do conhecimento social. O que se oculta, em última análise, é a violência na produção e na circulação. Concebido como agente mediador da compra e venda da força de trabalho, o estado assume papel fundamental para a existência do modo de produção capitalista. Exemplos podem ser dados às escâncaras. Quando, por decisão judicial, se reconhece a ilicitude da greve do setor dos transportes, impondo limites ao livre trânsito de veículos em horários de pico, o que se está promovendo é a circulação da força de trabalho, sob a escusa de que o interesse público consubstanciado no direito de ir e vir será atingido. Quando o estado constrói estradas, levanta hospital e escolas, a lógica é a mesma. A aparência é a promoção do interesse público, a sua relação com a essência indica que se está a tratar realmente da livre movimentação da força de trabalho.
Sem a compreensão destes pressupostos, não seria possível avançar para a análise da reforma do estado existente por detrás da Proposta de Emenda Constitucional n. 32.
À medida em que a forma contratual (ou jurídica) se acomoda às alterações do modo de produção capitalista, há um redimensionamento constante na relação entre o público e o privado. O mesmo se dá com o aparelhamento de estado. Duas situações têm-se mostrado importantes historicamente para esta relação: 1) na medida em que se tem a intensificação da luta de classes, o capitalismo utiliza-se estrategicamente do distanciamento entre as duas dimensões; pelo contrário, com a menor intensidade da luta de classes, há uma aproximação entre ambos (ficando mesmo mais difícil de divisar onde começa o público e em que momento se está falando do privado) e 2) numa etapa inicial do capitalismo, um maior distanciamento das dinâmicas estruturantes do público e do privado era fundamental, integrando um conjunto de medidas de organização rígida da compra e venda da força de trabalho; no momento atual, a aproximação das dinâmicas de estruturações do público e do privado faz parte de um todo integrado relativo à organização flexível da compra e venda da força de trabalho. Assim, se, no fordismo, por exemplo, havia um sentido no distanciamento inclusive das técnicas de gestão do setor público, a partir do toyotismo, faz parte da lógica estruturante que as dinâmicas de administração do setor privado passem a ser integradas ao setor público (por exemplo, a passagem, para o setor público, de postulados como o da eficiência e a importação das técnicas de gestão típicas das empresas no mercado para os entes estatais).
Para entendermos a proposta de reforma administrativa conduzida ao congresso pelo atual governo, há que se compreender exatamente que estamos nos segundos instantes do quadro anterior: a) aproximação do público e privado decorrente de menor intensidade da luta de classes; b) diminuição do distanciamento das técnicas administrativas do setor público e do setor privado em momento de organização flexível da compra e venda da força de trabalho.
Pensemos, agora, a Proposta de Emenda Constitucional n. 32, a partir de todas as premissas postas anteriormente.
Atualmente, a constituição fala que a “administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (art. 37, “caput”). Perceba-se que o texto originário não falava em princípio da eficiência. Acrescentado por Emenda Constitucional de 1998 (n. 19), já indicava uma tendência referente ao que falamos acima de um estado pautado pela dinâmica do mercado. Se da lógica clássica do liberalismo, legalidade e impessoalidade são princípios que regeram o estado liberal em seu nascedouro e se arrasta para os dias de hoje, a eficiência como princípio de atuação da administração pública é a inequívoca admissão da pauta privada pelo setor público – indicando exatamente a ausência de qualquer distinção entre as duas esferas, que, no fundo laboram conjuntamente para a plenitude da noção privada de propriedade. Se isso já vinha se dando antes mesmo do atual governo, indicando o transporte da dinâmica de estruturação da esfera privada para a pública, o fenômeno se intensifica com a Proposta de reforma n. 32. Ali, além da eficiência, passam a reger a atuação da nossa administração os postulados da inovação e boa governança pública. Arrematando o caráter privado da dinâmica unitária com o público, aparecem os princípios da unidade e da coordenação.
Em apertada síntese, esses dois últimos constituiriam a previsão de uma atuação em caráter unitário dos setores públicos com os setores privados, ainda que sob a coordenação estatal – mas não muito intensa como se percebe das disposições concernentes aos contratos a serem firmados pelas entidades do poder público das diversas esferas (art. 37-A da Proposta de Emenda n. 32). Em um capitalismo em cada vez mais há uma flexibilização da organização da compra e venda da força de trabalho - em consonância com um projeto intensificado com reformas trabalhistas que vêm se processando em especial (mas não apenas, já que vinha na pauta de governos anteriores) a partir Governo Temer e a reforma previdenciária do próprio Governo Bolsonaro (Emenda Constitucional n. 103/19) -, a proposta de Emenda Constitucional n. 32 de 2020 nasce sob o signo da total promiscuidade entre público e privado, revelando que, na essência, esta distinção não existe onde vinga a forma contratual (ou jurídica).
Na realidade, do geral, percebe-se que a proposta do governo Bolsonaro, mais do que uma reforma de toda a dinâmica de ligação entre o público e o privado, que já vinha se operando por sucessivas reformas anteriores, é voltada especificamente para a final desconstrução dos serviços públicos a partir de uma alteração profunda das condições de trabalho dos servidores públicos. Portanto, estamos a falar muito mais de uma reforma da administração a partir da desconstrução do conceito que tínhamos, até o instante, do próprio trabalhador que presta os serviços para a esfera administrativa. De um trabalhador estável de uma estrutura feita para serviços prestados de forma contínua e com a participação exclusiva do estado, em grande parte das hipóteses, passa-se para um que se submeterá a instabilidade típica do setor privado (setor se que torna, cada vez mais, um “parceiro”, um “colaborador”, tornando-se quase que um sócio majoritário das empreitadas relacionadas a serviços antes de natureza tipicamente estatal). Não é de se estranhar que essa reforma dos serviços públicos, já em andamento faz tempos, conduziria inevitavelmente à das condições laborais dos servidores públicos. Vejamos como isso se processou, revelando que exatamente no instante em que a luta de classes encontra-se mais amortecida é o momento propício para as alterações mais específicas e diretas sobre as condições de vida dos trabalhadores e trabalhadoras da esfera pública.
A lógica que permeia tudo isso é que, desconstruindo-se o serviço como essencialmente público, há a correlata desnecessidade de um servidor tradicionalmente público, com garantias como a estabilidade e salarias de diversas naturezas. Diante deste quadro, conduz-se à trincheira dos desprovidos de proteções jurídicas, semelhante ao que se dá com trabalhadores e trabalhadoras da iniciativa privada, os servidores públicos, com o que, também enfraquecidos, passariam a não ter a mesma capacidade mobilizatória atual. Aqui a luta pela defesa dos direitos nunca deve ser vista a partir da dinâmica da preservação do estado liberal, mas apenas pela ótica da dimensão das garantias mínimas de mobilização (não é fácil, por exemplo, para um trabalhador sem estabilidade no emprego, realizar uma greve, em vista do receio de perder o seu posto de trabalho. Algo que já se dá na esfera privada seria transposto para a pública).
Não há como se esconder do fato de que a segmentação da classe trabalhadora já se dá quando se fala em trabalhadores e trabalhadoras do setor público versus aqueles e aquelas do setor privado. Não obstante, agora, mais do que nunca, a divisão promovida no interior da classe trabalhadora, arma potente da burguesia no curso do processo histórico, passa a habitar com mais intensidade o interior da esfera pública. Se isso já se deu em reformas de governos anteriores (como no caso da Emenda 41 de 2003, que passou a conter a previsão de previdência complementar para os servidores públicos), com a atual alteração pretendida, passaríamos a ter trabalhadores públicos de contrato indeterminado versus os de prazo determinado (art. 37, par. 8º., inciso IV, e 39-A, inciso II, e seu parágrafo 2º.), assim como os primeiros seriam divididos naqueles investidos em cargos do típicos do estado (art. 37 II-B) e naqueles que não o são (art. 37 II-A).
Conversemos um pouco mais sobre a última segmentação.
Figura estranha é a do servidor em cargo típico do estado, que, em conformidade com o art. 39-A, em seu parágrafo 2º., virá definido por Lei Complementar (com quórum bem menos qualificado do que o exigido para uma emenda constitucional e, portanto, menos submetido à disputa política). É certo que a definição atenderá a uma nova realidade, na medida em que, com o desfazimento dos serviços públicos exclusivamente a cargo do estado, os servidores com atividades típicas se encontrarão agrupados em hipóteses cada vez mais raras. Talvez aqui venham a subsistir nesta qualidade aqueles que são fundamentais apenas para que o próprio estado de direito não deixe de existir (e estes, em geral, são aqueles provenientes de carreiras muito específicas, como as jurídicas ou diplomáticas, por exemplo). Mas, seja qual for a solução, a hipótese remete a tudo que falamos anteriormente, na medida em que o exercício de atividades específicas do estado é algo cada vez menos usual e estas serão as poucas que deterão prerrogativas como a proteção de estabilidade (art. 41). Ao servidor, em maior quantidade, que não estiver nesta condição, não há a mesma garantia.
Certamente, este trabalhador instável será levado à precariedade, com a possibilidade “compensatória” de acumulação indiscriminada de outros cargos públicos, como se constata do art. 39, inciso XVI-B (já que a vedação de acumulação de cargos, que hoje é restritiva a todos servidores, não o será mais para aqueles que não se enquadram como de carreiras típicas do estado, o que se depreende do art. 39, incisos XVI e XVI-A). Enfim, está a se construir a figura de um servidor público dos “bicos” ... inclusive “bicos” em diversas esferas do próprio estado. A mesma organização flexível prevista para a esfera privada sendo desenhada para o setor público. Ou melhor, as duas espécies de trabalhadores se submetendo à mesma dinâmica da organização flexível da compra e venda da força de trabalho – que deve ser considerada mais do que uma dimensão apenas do ato de alienar o trabalho em si, referindo-se a toda estrutura que propicia a reprodução dessa dinâmica contratual. Enfim, o máximo da subsunção real do trabalho ao capital, a que denominamos em outro artigo de subsunção hiper-real.
Um outro tema a se destacar, neste contexto, é o da possibilidade de contratação de trabalhadores por tempo determinado (algo que o Governo Bolsonaro já tinha conseguido na Emenda Constitucional n. 106/20). Embora as hipóteses de vínculo por prazo determinado sejam expressamente previstas no texto constitucional, há que se perceber que se trata de disposição que também reforça a tese da precarização da condição dos trabalhadores públicos e da própria Administração em si. A sua potencialidade destruidora é revelada pela própria abertura dos termos que definem as hipóteses, a autorizar uma ampla discricionariedade do administrador, como se percebe do art. 39-A, par. 2º., incisos I a III (que alcança situações como atividades e procedimentos sob demanda por exemplo).
A verdade é que estamos diante de uma modalidade de contratação precária, atingindo, com essa precariedade, não apenas os servidores públicos, mas o próprio serviço prestado em si. Adira-se a isso a ampliação das situações envolvendo a terceirização no serviço público, com o respaldo inclusive da jurisprudência, tendendo-se à inclinação de sua generalização também ali para as atividades fins (fenômeno semelhante ao que se deu no setor privado). Ou seja, as modalidades precárias de contratação do setor privado irão cada vez mais tomar conta das atividades públicas. Com isso, fica concluído o ciclo que denunciamos antes: a aproximação, em ambas esferas, da dinâmica de organização flexível da compra e venda da força de trabalho. Também aqui a linha divisória entre o direito público e o direito privado tende a se dissipar, já que tudo, no fundo, revela-se como defesa da propriedade privada. O mais impressionante é que nessa conformação da ideologia jurídica (ou contratual) sequer é mais necessário recorrer-se da figura da neutralidade do estado, já que o imaginário popular (leia-se dos trabalhadores e trabalhadoras, com força no real, na materialidade, e não apenas como uma consciência) passa a incorporar o “discurso” da necessidade de um estado sujeito às investidas empresariais. O próprio conceito de estado neutro, que possibilita a coerção econômica, vem assumindo nova feição.
E aqui podemos finalizar exatamente com um dado fundamental desta ideologia jurídica (ou contratual), colocada na Proposta de Emenda Constitucional 32, que é o da abertura à possibilidade real de uma intensificação da militarização dos aparatos de estado brasileiro. Não se está a falar dos seus aparelhos repressivos, mas ideológicos, sendo perfeitamente possível o uso da noção althusseriana ampliada de estado, alcançando também os setores da sociedade civil. Tudo isso deve ser vislumbrado a partir da perspectiva ideológica de que somos interpelados, no capitalismo, à constante reprodução da prática de compra e venda da força de trabalho.
Este preocupante dado é revelado pelo menos em dois dispositivos que se pretendem ver introduzidos no texto constitucionais.
No primeiro, abre-se a possibilidade de o militar chamado a exercer funções no serviço público civil mantenha o vínculo com as forças armadas, ainda que suspenso por dois anos. Somente após, passaria para a reserva. A respeito veja-se a redação do art. 142, inciso III, da Proposta de Emenda Constitucional n. 32. Essa disposição é fundamental para a composição de um governo com premissas de militarização dos aparelhos estatais, nos mais diferentes escalões (mas em especial nos inferiores). Mantida intacta, por um certo período, a relação com o serviço público militar será mais fácil uma constante movimentação de militares para cargos públicos civis, resguardada a possibilidade de retorno aos postos anteriores. Além disso, há uma espécie de garantia, para os militares, de não perderem, caso não seja exitosa a experiência, o vínculo relativo às funções originárias. Garantia para os militares, que mais do que pessoal, significa a preservação da lógica militar na consolidação dos aparatos estatais.
No segundo (art. 142, par. 4º., da PEC 32), abre-se a possibilidade explícita de que os militares possam acumular a suas funções com as das esferas públicas ou privadas do magistério e da saúde. Aqui deve-se pensar a noção de estado no sentido ampliado althusseriano, em que os aparatos ideológicos não se encerram apenas no espaço meramente público, atingindo também o setor privado - teoria que parte da percepção marxiana das razões ideológicas da compartimentação entre sociedade civil e estado. É na escola, já dizia Althusser, que irá se processar a difusão dos conhecimentos das técnicas da compra e venda da força de trabalho, constituindo-se no espaço fundamental para a reprodução desta modalidade contratual como dado constitutivo do modo de produção capitalista. Militares infestando escolas e universidades, públicas e privadas, seria certamente o que mais desejaria este governo. Propagando os ideais positivistas, esta gente ajudaria a concluir a batalha contra a “ideologia de esquerda” que “infesta e contamina” o ensino, em especial o público superior. Aqui estaria, por fim, alcançada a pretensão de uma “escola sem partido, sem ideologia”, já que ensinar a compra e venda da força de trabalho e a preservação deste tipo de ordem não é, para este governo, ideologia, mas um dado natural do mundo em que vivemos.
Enfim, realizada esta leitura incipiente da proposta de reforma administrativa do governo Bolsonaro, fica a advertência: se, com Dorival Caymmi, aprendemos que “o olhar que prende anda solto, o olhar que solta anda preso”, também é dele a lição de que aquele olhar que admira, que se surpreende, enfim, “o olhar que assusta anda morto”, sendo, no entanto, que o “olhar que avisa anda aceso”.
* Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP)
BIBLIOGRAFIA
ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de estado: notas sobre os aparelhos ideológicos de estado. 11. reimp. Trad. Walter José Evangelista e Maria Laura Viveiros de Castro. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1985.
MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I. V. II. Trad. Reginaldo Sant’Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
ORIONE, Marcus. A política de governo de preservação de emprego e renda em tempos de coronavírus: perspectivas para o sujeito de direito, 2020. Site A terra é redonda, São Paulo, 15 maio 2020. Disponível em https://aterraeredonda.com.br/o-direito-na- pandemia/. Acesso em 18 maio 2020
PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). Coord. Marcus Orione. Trad. Lucas Simone. São Paulo: Sundermman, 2017.