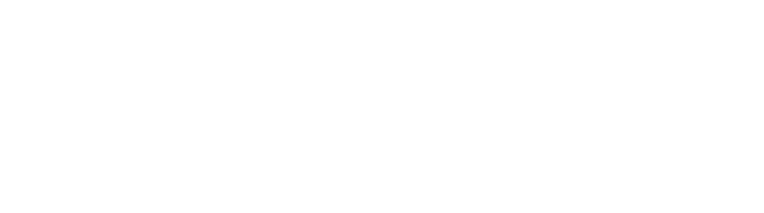Artigo publicado originalmente no site do desembargador Jorge Luiz Souto Maior, do TRT-15, no dia 20 de março de 2020.
*****
O Coronavírus (que, segundo alguns, é obra do demônio contra a ordem divina; para outros, uma invenção da China para dominar o mundo, ou dos EUA, para impedir o avanço econômico da China; para tantos outros, dependendo da respectiva posição ideológica, nada além do que uma criação das forças econômicas mundiais para favorecer a adoção de políticas de choque neoliberais, ou uma orquestração da esquerda, para gerar crise sistêmica; isso sem falar daqueles que desdenham a questão, dizendo que não passa de uma histeria midiática, e, então, cumprimentam pessoas em local público, para, logo em seguida, aparecerem em coletiva usando máscaras, mas tirando-as o tempo todo) é um fenômeno real que, independentemente de onde tenha partido e como tenha sido concebido, já ceifou milhares de vidas mundo afora e que, sem controle, pode conduzir a humanidade ao caos.
Diante da situação, a humanidade clama pela razão!
Não é com oportunismos, dissimulações, simulacros, disfarces, disputas ideológicas, fanatismos e desprezo ao conhecimento e ao raciocínio lógico e altruísta que se vai conseguir encontrar alguma solução para o problema, que, claro, em cada país, ainda se soma a tantos outros diversos e peculiares.
No caso do Brasil, durante muito tempo se desprezou a questão social e, agora, com a pandemia, tem-se a oportunidade de perceber que o que acontece na Rocinha ou em Paraisópolis atinge quem mora no Leblon ou nos Jardins.
Na história recente brasileira, aproveitou-se de circunstâncias políticas dadas para levar adiante um projeto que viabilizasse maiores lucros a grandes conglomerados econômicos, mas por meio da disseminação de fórmulas de precarização no trabalho, destruição de serviços públicos, inclusive de saúde e de previdência social, levado adiante, inclusive, com desprezo das políticas públicas, favorecendo a formalização de privatizações predatórias. Tudo em nome da “modernidade”, de uma tal “eficiência administrativa” e de um milagroso “sucesso econômico”.
Agora, diante dos efeitos concretos e insofismáveis da pandemia, já é possível compreender que o serviço público de saúde é fundamental para a vida de todos; que a precarização do trabalho, sobretudo em momentos de crise verdadeira (ao contrário do que se dizia, pois utilizavam a crise econômica – falseada – como fundamento para introduzir formas precárias de trabalho) conduz pessoas à perda total de condições de sobrevivência, o que acaba interferindo na vida de todas as demais pessoas.
Vejam que o próprio governo que incentivou a precarização, como forma de salvar a economia, agora diz que vai “dar” dinheiro para quem foi precarizado e os que estão na informalidade (mas as possibilidades de êxito estrutural da medida são mínimas)[i].
Neste novo contexto, acelerado pelo Coronavírus, o papel do Estado, como assegurador da vida de todos os cidadãos, e das políticas públicas, necessárias à efetivação das obrigações do Estado, é recobrado, sendo incontestável e plenamente sólido descartar a crença (quase medieval) de que a mera soma das vontades individuais e livremente manifestadas de pessoas economicamente desiguais, cujas condições de vida, como se pode ver, produzem resultados recíprocos no item sobrevivência, seja capaz de ser tomada como base da vida em sociedade.
As palavras de ordem, novamente, são: solidariedade, responsabilidade social dos setores políticos e econômicos, reafirmação das práticas e instituições democráticas, com reforço das forças populares e classistas, cuja voz e interesses precisam, essencialmente, ser ouvidos e atendidos.
A cada um de nós, individualmente, cumpre, portanto, um papel altamente relevante de exercitar a mente para a busca de raciocínios que permitam visualizar o que se passa ao redor e, assim, contribuir para a busca de soluções.
O mínimo que se espera, em termos de tomada da razão como guia de pensamento e do agir, é a coerência. A falta de coerência é reveladora das falácias dos argumentos e de seus reais propósitos, demonstrando, por consequência, a ineficácia de uma medida proposta, que, no caso de pandemias, não é apenas um problema de ineficácia, representando, isto sim, um sério, irresponsável e, por que não dizer, criminoso ato que promove o agravamento dos problemas.
É dentro desse contexto que se deve visualizar como incoerente e, portanto, criminosa, a postura da Comissão Especial do Congresso Nacional que, no meio de toda essa crise, em 17 de março último, aprovou o relatório da MP 905[ii], que institui a tal Carteira Verde e Amarelo, a qual conduz as relações de trabalho, de forma generalizada, ao nível da total informalidade, ainda mais sabendo-se, como se sabe ou se deveria saber, que a adoção de medidas como esta geram impactos negativos na arrecadação pública, cujo orçamento é essencial, exatamente, para a adoção das políticas sociais de saúde.
Mas, ainda mais grave é o anúncio do governo, divulgado ontem (19 de março), sob o silêncio conivente da grande mídia, de que vai “permitir corte de salário e jornada dos trabalhadores pela metade”[iii], atendendo, inclusive, uma demanda expressa da Confederação Nacional das indústrias (CNI)[iv].
Ora, até alguns dias atrás, como modo de justificar a “reforma” trabalhista, se falava em “modernização” das relações de trabalho, marcada pela não intervenção do Estado, a eliminação do “paternalismo”, na necessidade de homenagear a vontade livre das partes e, agora, o que se propõe, de forma contundente, é uma intervenção do Estado, superando a negociação coletiva com os sindicatos, de modo a utilizar a força do Estado para fazer prevalecer a vontade de uma das partes, a das empresas, e isso, segundo se diz, por uma questão que seria de interesse nacional.
A incoerência é que, agora, o que se deseja é que a intervenção do Estado prevaleça sobre o negociado, que, aliás, é simplesmente desprezado.
A coerência, há de se reconhecer, está no pressuposto de que tanto nas propostas anteriores como na que ora se apresenta a suposta defesa dos superiores interesses da economia se dá pelo sacrifício dos trabalhadores. No primeiro caso, os trabalhadores, diante das condições materiais favoráveis ao capital, estavam “livres” para abrir mão de seus direitos. No segundo, estão obrigados a suportar esses sacrifícios.
A questão é que, do ponto de vista jurídico, as duas proposições estão erradas, sendo certo que a complementação da proposta, prevendo que trabalhadores que ganham até 2 salários-mínimos e que tenham seus salários reduzidos recebam 25% do seguro-desemprego[v] não repara a irregularidade jurídica e, ainda, reforça a sua incoerência, vez que, concretamente, representa uma atitude paternalista no sentido da utilização de dinheiro púbico para facilitar a vida das empresas em sua relação econômica e jurídica com os trabalhadores.
No quadro em que não se denotam anomalias econômicas graves, o que prevalece é o princípio da progressividade, que fundamenta a utilização dos institutos jurídicos trabalhistas na busca da melhoria da condição social e econômica de trabalhadores, com reflexos positivos na economia e na vida em geral. O patamar mínimo legalmente estabelecido serve como parâmetro para evitar que ações individuais e o exercício localizado do poder econômico sejam utilizados de maneira negativa e isso force toda a cadeia produtiva em direção de uma competitividade destrutiva da coesão social.
Para situações de crise estrutural e, portanto, real, em que o sistema como um todo está na beira do caos, conforme se apresenta no presente momento (e não no caso de crises meramente especulativas e cíclicas), a ordem jurídica até prevê a possibilidade de redução de direitos, mas sempre por meio de negociações coletivas.
Em texto publicado, em janeiro de 2009, apresentei os marcos dessa negociação, conforme pode ser visualizado em https://www.migalhas.com.br/depeso/76615/negociacao-coletiva-de-trabalho-em-tempos-de-crise-economica.[vi]
Resumidamente, uma negociação coletiva (e somente ela), estabelecendo, pelo menos, redução proporcional dos ganhos de diretores e acionistas, fixada com prazo determinado, poderia, em tese, propor uma redução emergencial de salários e de jornada.
A negociação coletiva seria também importante para que a situação de crise não fosse utilizada como forma de redução definitiva do patamar dos direitos trabalhistas e, para que, retomada a situação anterior.
E para que se pudesse chegar a uma negociação neste sentido não caberia invocar os dispositivos dos artigos 501 a 504 da CLT, para conferir ao empregador o argumento, supressivo da necessária boa-fé que deve estar na base de toda negociação jurídica, de que, sem a efetivação do acordo de redução, poderia efetuar a dispensa coletiva de seus trabalhadores com pagamento pela metade da indenização a que estes teriam direito no caso de cessação imotivada, eis que estes são alguns dos pouquíssimos dispositivos da CLT que não foram alterados desde 1943 e, como diziam os adeptos da “reforma”, estão obsoletos, até porque perderam eficácia jurídica diante dos termos expressos da Constituição, que exige negociação coletiva para a retração emergencial e temporária de direitos, o que não pode, portanto, se dar por iniciativa unilateral do empregador, mesmo no que tange à cessação do vínculo ou ser utilizado como demonstração de poder para impor sua vontade aos trabalhadores, viciando, assim, o negócio jurídico que daí advenha.
O problema concreto é que na recente “reforma” trabalhista o setor econômico impôs um esfacelamento, por asfixia financeira, da organização sindical, a qual precisa, portanto, urgentemente, ser reinventada, superando, inclusive, os limites das categorias profissionais e econômicas legalmente determinadas, já que o requisito de validade dos acordos coletivos é a existência de sindicatos legítimos, que, de fato e de direito, representem os efetivos interesses dos trabalhadores. No caso da redução de ganhos em situação de crise, um acordo deveria, necessariamente, ser aprovado em democrática e regular assembleia, prevendo, ainda, as condições para a retomada dos patamares social e econômico aplicáveis no momento da formalização do ajuste, pois não é de mera renúncia, em razão do estado de extrema necessidade, que se trata. Mas a destruição dos sindicatos não possibilita vislumbrar uma generalizada legitimidade procedimental democrática mínima para esse tipo de negociação.
Com a “reforma” trabalhista foram destruídas as bases mínimas das relações jurídicas entre o capital e o trabalho no Brasil, o que favorece, agora, a um agravamento ainda maior da situação econômica e da coesão social. Exige-se, pois, a revogação do passo dado e não reiterar no erro e promover o seu aprofundamento.
Quem, com a verdade expressa no coração e na mente, quer ser atendido por trabalhadores precarizados, sem preparação técnica, mal remunerados e sem compromissos institucionais e duradouros com a entidade prestadora de serviços? Pois é, mas foi esse tipo de serviço e de condição social, econômica e humana que a “reforma” generalizou e do qual alguns, de forma irresponsável, no meio da crise, querem se valer, alastrando ainda mais os riscos.
Presenciando os efeitos concretos de uma crise plena, faz-se necessário superar os limites estritos dos dispositivos legais citados e lembrar que o vínculo jurídico básico que une os seres humanos em sociedade, no Estado Social Democrático de Direito, instituído após as duas guerras mundiais, é a solidariedade, da qual se extrai o princípio de que todos, individualmente, têm responsabilidade com a vida alheia, já que, como expresso na exposição de motivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para se falar em dignidade, liberdade, justiça e paz é preciso reconhecer todos os seres humanos como “membros da família humana”, com direitos iguais e inalienáveis, decorrendo daí a obrigação primária, inscrita no art. 1º da mesma Declaração, de que: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.”
Daí porque não cabe em momento de pandemia invocar o direito subjetivo de aumentar o sofrimento alheio, impondo-lhe o desemprego ou a redução de salário. Agir desse modo, inclusive, frustra qualquer expectativa de preservação de humanismo nos seres humanos, além de não ser, como dito, uma atitude juridicamente válida. Às empresas, ademais, cabe a responsabilidade social mínima de não alastrar o caos, conduzindo pessoas ao desemprego ou impondo redução de salário como condição de manutenção do emprego, sem qualquer tipo de ajuste negocial neste sentido. Dito de forma mais clara, manutenção do emprego e preservação do salário constituem a responsabilidade social, jurídica e econômica mínima que se exige neste momento, podendo-se, para tanto, conceber auxílios estatais, notadamente a pequenas empresas, conforme já verificado, inclusive, em outros países[vii].
E mais jurídica e humanamente insustentável é a atitude de alguns empregadores, cujo empreendimento ou serviço não está vinculado a atividades necessárias à preservação da vida, de exigir a continuidade dos serviços, expondo em grave risco a vida dos trabalhadores (e, sobretudo, dos terceirizados), como se tem verificado, por exemplo, em alguns setores administrativos da Universidade de São Paulo e em alguns tribunais.
Não é apenas de sensibilidade e compaixão que se fala, portanto. É de obrigações jurídicas sociais a todos impostas, sobretudo, em momento de efetiva crise humanitária.
E no feixe de relações obrigacionais, não cabe ao Estado estimular práticas supressivas da solidariedade, ainda mais favorecendo à imposição de maiores sacrifícios aos que, historicamente, já foram bastante sacrificados.
A história ensina que nos momentos de crise profunda o pior que se pode fazer é afundar com ela. Vale lembrar que as bases do Estado Social e as formas jurídicas voltadas à produção e à distribuição da riqueza foram estabelecidas em momento de crise profunda da humanidade. Assim, reduzir esse patamar não serve ao plano de superação da crise. Por isso, precisamos estabelecer novas formas de distribuição da riqueza historicamente e socialmente construída e não impor sacrifícios àqueles que a conceberam, pois há um ser humano por trás da força de trabalho e, por conseguinte, de tudo que é produzido ou realizado.
Ademais, políticas estatais impositivas de sacrifícios só teriam algum argumento de legitimidade se não se voltassem, de forma seletiva e discriminadamente, a um único grupo social, mantendo os padrões da desigualdade social dos quais as crises se retroalimentam.
Assim, qualquer tentativa de diminuir os efeitos da crise, assumindo a necessidade de sacrifícios individuais (sociais e econômicos), só poderia, do ponto de vista estritamente jurídico, ser levada a efeito com a generalização das imposições, exigindo maior sacrifício daqueles que mais se beneficiaram do modo como as relações sociais historicamente se institucionalizaram.
Definitivamente, não é possível sequer pensar em impor ou mesmo estimular o sacrifício de salários a trabalhadores terceirizados, empregadas domésticas e demais trabalhadores e servidores em geral, enquanto mantidos inalterados os ganhos do presidente da República, dos senadores, dos deputados, dos ministros de Estado, dos ministros do Supremo, de magistrados, dos bancos, dos grandes conglomerados econômicos e de toda uma estrutura que, ao longo dos tempos, instrumentalizou a produção e a preservação de desigualdades sociais e favoreceu a exploração predatória do trabalho, o qual, como a pandemia revela e Guedes reconhece, é a verdadeira fonte de todo valor, pois sem o trabalho a economia entra em colapso[viii].
De todo modo, a retração das conquistas sociais não pode nos guiar, até porque isso só servirá para aumentar o sofrimento coletivo e agravar ainda mais os elementos da crise.
A enorme dificuldade econômica que muitos empregadores (grandes, médios e pequenos) vão passar nesse momento precisa ser enfrentada com responsabilidade, para que das soluções buscadas se possam extrair as bases sociais, filosóficas, econômicas, mentais e sinceras que são essenciais a qualquer tipo de projeto que vise conferir viabilidade à vida humana na Terra.
O coronavírus lançou um desafio enorme a todos nós, qual seja, o da superação do estágio de alienação a que fomos conduzidos na sociedade de consumo, da concorrência e do individualismo egoísta e reificado.
Dentre os diversos riscos existentes, está o de perdemos a chance para essa reflexão e, com isso, buscarmos soluções para os nossos problemas por meio do sacrifício alheio, além de culparmos os outros pela situação, de modo a estimular atitudes ainda mais desagregadoras e instigadoras de conflitos que, ao mesmo tempo, promovem um maior afastamento do tão desejado humanismo que se espera existir em todos os seres humanos.
Como conferir efeitos concretos e verdadeiros à solidariedade, ao humanismo e à razão? Eis o desafio.
Precisamos vencer esse desafio, pois, do contrário, ele nos terá vencido, qualquer que seja o resultado numérico de vítimas.
E para promovermos a razão é preciso ouvir, compreender, refletir, tolerar e se expressar com respeito e sinceridade teórica e coerência prática.
Não possuem, portanto, qualquer validade jurídica ou apoio em preceitos humanísticos mínimos, as propostas que tentam impor, ainda mais de forma unilateral e violenta, redução de ganhos aos trabalhadores (tanto no setor privado, quanto no setor público), suprimindo o agora sim necessário diálogo social.
A atuação pública jurídica, social e economicamente válida e responsável, exige medidas que se voltem à distribuição da riqueza histórica, socialmente construída e que se acumulou nas mãos de muito poucos. Medidas que, inclusive, devem ser adotadas em contexto de generalização, visualizando restrições econômicas com relação àqueles que (sobretudo grandes empresas, bancos e altos escalões das estruturas públicas e privadas) ocupam posições privilegiadas no seio social (fincadas, inclusive, em uma histórica desigualdade).
Devemos, sobretudo neste momento, fincar um não ao retrocesso social, até porque essa lógica de retração de direitos, de forma oportunista, tenderá a se perenizar.
E tudo isso considerando-se o ponto de vista estritamente jurídico e objetivado, tomando como parâmetro a preservação desse modo de produção e da sociedade que lhe é consequente, sem adentrar, portanto, outra discussão altamente necessária em torno da real viabilidade desse modelo para a vida humana, sobretudo, diante da verificação dos seus limites ecológicos, econômicos, sociais, políticos e racionais que, com a pandemia, saltam aos olhos, notadamente, quando, mesmo em grave contexto, oportunismos ligados a interesses seletivos e à preservação das desigualdades insistem em conduzir as políticas públicas e não se incomodam com o sofrimento alheio.
São Paulo, 20 de março de 2020.
*****
[i]. https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/guedes-anuncia-voucher-de-r-200-para-trabalhador-informal/[ii]. https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/17/comissao-aprova-relatorio-da-mp-do-contrato-de-trabalho-verde-e-amarelo.htm[iii]. https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2020/03/18/governo-autorizara-reducao-de-jornada-de-trabalho-e-de-salarios.htm[iv]. https://www.terra.com.br/economia/cni-apresenta-37-propostas-de-medidas-para-atenuar-efeitos-da-crise,3c0e560fdf754b81cc39aee367af4642pkwbdug8.html[v]. https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/19/empregado-que-tiver-reducao-de-jornada-recebera-r-250-do-seguro-desemprego.htm[vi]. “É totalmente equivocado, desse modo, considerar que acordos e convenções coletivas de trabalho possam, sem qualquer avaliação de conteúdo, reduzir direitos trabalhistas legalmente previstos, simplesmente porque a Constituição previu o “reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho” (inciso XXVI, do art. 7º) e permitiu, expressamente, por tal via, a redução do salário (inciso VI, art. 7º), a compensação da jornada (inciso XIII, art. 7º) e a modificação dos parâmetros da jornada reduzida para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento (inciso XIV, do art. 7º).Ora, o artigo 7º, em seu ‘caput’, deixa claro que os incisos que relaciona são direitos dos trabalhadores, ou seja, direcionam-se a um sujeito específico, o trabalhador, não se podendo entendê-las, conseqüentemente, como algum tipo de proteção do interesse econômico dos empregadores. Além disso, as normas são, inegavelmente, destinadas à melhoria da condição social dos trabalhadores.Não se pode ver nos preceitos fixados nos incisos do art. 7º os fundamentos jurídicos para fornecer aos empregadores a possibilidade de, por um exercício de poder, induzirem os trabalhadores, mesmo que coletivamente organizados, a aceitarem a redução dos direitos trabalhistas legalmente previstos, ainda mais quando tenham sede constitucional e se insiram no contexto dos Direitos Humanos.O inciso VI, do art. 7º, por exemplo, que cria uma exceção ao princípio da irredutibilidade salarial, permitindo a redução do salário, e nada além disso, por meio de negociação coletiva, insere-se no contexto ditado pelo ‘caput’ do artigo, qual seja, o da melhoria da condição social do trabalhador e não se pode imaginar, por evidente, que a mera redução de salário represente uma melhoria da condição social do trabalhador. Assim, o dispositivo em questão não pode ser entendido como autorizador de uma redução de salário só pelo fato de constar, formalmente, de um instrumento coletivo (acordo ou convenção).A norma tratada, conseqüentemente, só tem incidência quando a medida se considere essencial para a preservação dos empregos, atendidos certos requisitos. A Lei n. 4.923/65, ainda em vigor, mesmo que parte da doutrina assim não reconheça, pois não contraria a Constituição, muito pelo contrário, fixa as condições para uma negociação coletiva que preveja redução de salários: redução máxima de 25%, respeitado o valor do salário mínimo; necessidade econômica devidamente comprovada; período determinado; redução correspondente da jornada de trabalho ou dos dias trabalhados; redução, na mesma proporção, dos ganhos de gerentes e diretores; autorização por assembléia geral da qual participem também os empregados não sindicalizados.A própria Lei de Falência e Recuperação Judicial, n. 11.101/05, de vigência inquestionável, parte do pressuposto ao respeito à política de pleno emprego, à valorização social do trabalho humano e à obrigação de que a livre iniciativa deve assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social.A recuperação judicial é um mecanismo jurídico, cuja execução compete ao Estado, por intermédio do Poder Judiciário, e tem por finalidade preservar as empresas que estejam em dificuldade econômica não induzida por desrespeito à ordem jurídica e que tenham condições de se desenvolver dentro dos padrões fixados pelo sistema, tanto que um dos requisitos necessários para a aprovação do plano de recuperação é a demonstração de sua ‘viabilidade econômica’ (inciso II, do art. 53, da Lei n. 11.101/05).O art. 47, da Lei n. 11.101/05, é nítido quanto a estes fundamentos: ‘A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.’ (grifou-se)Fácil verificar, portanto, que tal lei não se direciona à mera defesa do interesse privado de um devedor determinado. A lei não conferiu um direito subjetivo a quem deve, sem se importar com a origem da dívida e a possibilidade concreta de seu adimplemento. Não estabeleceu, conseqüentemente, uma espécie de direito ao “calote”, até porque sem a possibilidade concreta de manter a atividade da empresa com base em tais postulados esta deve ser conduzida à falência (art. 73, da Lei n. 11.101/05).O que há na lei é a defesa das empresas numa perspectiva de ordem pública: estímulo à atividade econômica, para desenvolvimento do modelo capitalista, preservando empregos e, em conformidade com a Constituição, visualização da construção de uma justiça social.A lógica do ordenamento jurídico que se direciona à manutenção da atividade produtiva das empresas é a da preservação dos empregos, admitindo como meios de recuperação judicial, a ‘redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva’ (art. 50, inciso VIII, da Lei n. 11.101/05).Para tanto, exige-se, ainda, a ‘exposição das causas concretas da situação patrimonial’ da empresa e ‘das razões da crise econômico-financeira’ (inciso II, do art. 51), além da ‘demonstração de sua viabilidade econômica’ (inciso II, do art. 53), dentre diversos outros requisitos, sendo relevante destacar que a dispensa coletiva de empregados, em respeito ao art. 7º, I, da Constituição, não está relacionada como um meio de recuperação da empresa (vide art. 50).Como se vê, a ordem jurídica não autoriza concluir que os modos de solução de conflitos trabalhistas possam ser utilizados como instrumentos de meras reduções dos direitos dos trabalhadores, sendo relevante realçar os fundamentos que lhe são próprios, conforme acima destacado: a) fixar parâmetros específicos para efetivação, em concreto, dos preceitos normativos de caráter genérico referentes aos valores humanísticos afirmados na experiência histórica; b) melhorar, progressivamente, as condições sociais e econômicas do trabalhador.”[vii]. https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/17/medidas-governo-coronavirus-trabalho.htm[viii]. https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/16/guedes-diz-que-se-todos-ficarem-em-casa-pais-entra-em-colapso.htm