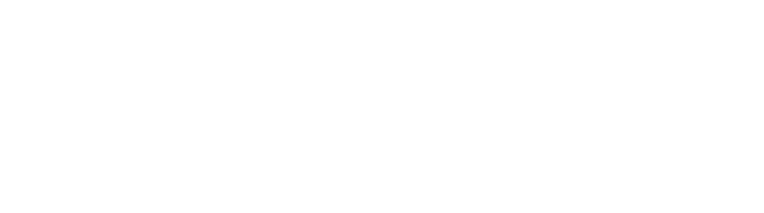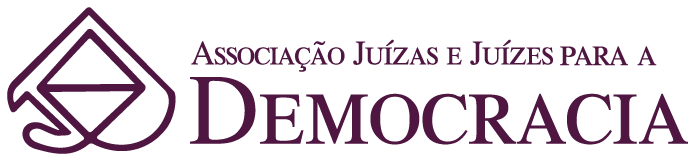Alberto Muñoz Alonso, Flávio Roberto Batista, Jorge Luis Souto Maior, Márcio Bilharinho Naves, Marcus Orione, Pablo Biondi1) Aspectos gerais da obra A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929)A Sunderman publica a obra máxima de Evgeni Pachukanis, A teoria geral do direito e o marxismo, pela primeira vez traduzida diretamente do russo. A tradução foi feita por Lucas Simone (doutorando em Língua e Literatura Russa pela USP, tradutor experiente que já realizou atividades de tradução de grandes autores da literatura russa para as Editoras 34 e Companhia das Letras e professor de língua russa) e revisada por uma comissão de professores da Faculdade de Direito da USP e doutores em direito também pela mesma universidade.A comissão de revisão foi integrada pelo maior especialista brasileiro do pensamento de Pachukanis, o professor Márcio Bilharinho Naves, da Unicamp, além de mais três professores da Faculdade de Direito da USP (Marcus Orione, Flavio Roberto Batista Júnior e Jorge Souto Maior) e dois doutores em direito (Alberto Alonso Muñoz e Pablo Biondi).O volume inclui ainda mais seis ensaios de Pachukanis, escritos entre 1921 e 1929, inéditos em qualquer língua ocidental. Neles Pachukanis polemiza com a doutrina jurídica do Direito Público (particularmente com autores clássicos no Direito Administrativo, como Maurice Hauriou e Léon Duguit, e as ilusões da criação do conceito de “função social da propriedade” pelo direito burguês), com a Filosofia do Direito (um incisivo artigo em que procede à demolição do formalismo jurídico positivista, especialmente o de Hans Kelsen) e com a Teoria Geral do Estado (implodindo a concepção reformista do Estado como árbitro institucional neutro, acima das classes, destinado a realizar um pretenso e abstrato “bem comum”).A obra inclui ainda um prefácio de autoria do professor Márcio Bilharinho Naves, apresentando a obra de Pachukanis, além de uma introdução à análise marxista-pachukaniana do direito, de autoria de Christopher J. Arthur, professor da Universidade de Sussex, traduzida por Júlia Lenzi, Thamiris Molitor e Marisa Grigoletto.O volume compreende, por fim, uma biografia de Pachukanis, duas bibliografias selecionadas (uma ampla seleção de suas obras e uma lista dos estudos mais relevantes sobre Pachukanis), além de um remissivo e um índice onomástico.2) A perspectiva da forma jurídica em A teoria geral do direito e o marxismoEm A teoria geral do direito e o marxismo,publicada originalmente em 1924, Pachukanis desenvolve ao máximo sua concepção acerca da forma jurídica, erigindo um monumento teórico, a pedra fundamental da crítica marxista do direito. Nessa obra, que conta com um texto de introdução e sete capítulos, o jurista russo opera uma revolução metodológica na maneira de se compreender o direito, inclusive dentro do marxismo, se considerarmos a originalidade, o rigor e a força teórica de sua tese no bojo do debate jurídico soviético, que tinha como pano de fundo o problema do direito na transição socialista em curso na Rússia soviética do período.Alguns elementos desse debate podem ser vislumbrados nos prefácios escritos por Pachukanis, especialmente no prefácio à segunda edição. Apesar de, em seu percurso, nosso autor dialogar com variados teóricos marxistas do direito, pode-se dizer que o centro de sua elaboração estava na polêmica com Petr Stutchka, cujo pensamento mostrou-se mais influente no Comissariado do Povo para a Justiça. Numa respeitosa polêmica entre camaradas de partido, Pachukanis defende suas posições das críticas de Stutchka e indica o eixo de sua preocupação metodológica. Reivindicando os apontamentos de Marx e Engels relativos ao fenômeno jurídico, especialmente aqueles que foram feitos em O capital e no Anti-Dühring, a tese pachukaniana constata uma orientação comum nesses escritos, e que propicia um deslocamento no estudo do direito: rompe-se com a leitura tradicional focada na normatividade, na regulamentação coercitiva externa dos indivíduos e das relações sociais, e se parte para um exame centrado no sujeito de direito, categoria basilar ao princípio moderno e jurídico da igualdade.Na Introdução de sua obra, Pachukanis anuncia, de imediato, o objetivo de alcançar as categorias jurídicas mais fundamentais e abstratas, ou seja, dos conceitos que, sendo próprios do direito enquanto uma forma histórico-social determinada, são definidores dele a despeito de quaisquer mudanças eventuais no seu conteúdo concreto. É somente por meio desses conceitos que se pode separar o jurídico do não-jurídico, inclusive historicamente. E é bem essa a “obsessão” de Pachukanis: historicizar o direito, circunscrevê-lo no âmbito de relações de produção específicas, compreender as condições em que ele pode ter lugar no mundo, as condições que inibem o seu desenvolvimento e, principalmente, as condições para a sua superação.Teorias como as de Stutchka, que modificam o conteúdo social a ser identificado no direito (dominação de classe, e não mais o bem comum e a justiça, como propõem a maioria das leituras burguesas), mas que ignoram as determinações da forma, são incapazes de conduzir a crítica marxista de maneira consequente, tampouco de superar os horizontes ideológicos da dogmática jurídica. Pois antes de se perguntar qual a natureza do direito de cada época, é preciso indagar se tal época reúne os fundamentos sociais necessários para que se configure o objeto histórico conhecido modernamente como direito. Fora desses marcos, o que se tem é uma eternização do direito, ou seja, o seu entendimento como uma sombra que pairaria sobre sociedades tão diferentes entre si como a asiática, a escravista, a feudal, a capitalista e mesmo a socialista. Pachukanis explica que uma conceituação jurídica pretensamente válida para qualquer situação histórica só pode ser vazia e dogmática:As abstrações jurídicas fundamentais que são geradas pelo pensamento jurídico desenvolvido e que são as definições mais imediatas da forma jurídica em geral refletem relações sociais determinadas e, além disso, extremamente complexas. A tentativa de encontrar uma definição do direito que respondesse não apenas a essas relações complexas, mas à “natureza humana” ou à “sociedade humana” em geral, deve inevitavelmente levar a fórmulas escolásticas, puramente verbais (PACHUKANIS, 2017, p. 79).Uma noção de direito que possa abrigar contextos histórico-sociais radicalmente distintos afasta-se, inevitavelmente, do método dialético apresentado por Marx nos Grundrisse e aplicado em sua plenitude em O capital. Pois esse método, aplicado por Pachukanis com maestria – não como um vulgar paralelo entre economia política e direito, e sim como atento manuseio da lógica marxiana –, obriga-nos a tomar os elementos abstratos como mero ponto de partida, de maneira que se faça um movimento em direção aos elementos mais concretos. Deter-se no momento da abstração impossibilita a captura da concretude histórica. E mesmo no instante do abstrato, é preciso tomar o referencial correto. No caso do direito, esse referencial não pode ser a norma, cuja presença é uma constante também no domínio da moral, da técnica, da arte etc. Há que se tomar o sujeito de direito como a categoria mais simples e elementar do fenômeno jurídico. Mais do que isso: há que se tomá-lo como uma categoria real, operante, como uma manifestação do princípio materialmente atuante, e não meramente ideológico, da igualdade jurídica.E o que é o sujeito de direito? Consiste ele no indivíduo formalmente livre, igual aos demais e proprietário de si mesmo, movido por uma razão utilitária de mercado, que persegue seus interesses particulares, estabelecendo relações jurídicas com seus pares. Na sociedade contemporânea, essa descrição corresponde a todo e qualquer cidadão, independentemente de sua posição de classe. Ora, é justamente essa abstração das classes sociais e das características concretas que qualifica o sujeito de direito como tal, e que permite o singular método capitalista de exploração: a extração da mais-valia é realizada não por um déspota que subjuga pessoalmente o seu inferior, mas por um empresário capitalista que, como contratante, iguala-se ao proletário que vende sua força de trabalho. A troca de salário pelo uso da força de trabalho dissimula a extração do valor excedente. No plano aparente, tudo não passa de uma inocente permuta de valores que se equivalem. O direito, assim, conforma material e ideologicamente as figuras do mercado, assegurando a circulação e a produção capitalistas. Sendo essa, pois, a origem do elemento jurídico na história, já que o sujeito de direito é um desdobramento necessário da economia mercantil, tem-se que apenas a sociedade capitalista – a única sociedade na qual o produto do trabalho necessariamente assume a forma de mercadoria, e na qual a própria força de trabalho converte-se em artigo de comércio – está apta para produzir a forma jurídica e o sujeito que a instrui. Nas palavras de Pachukanis (2017, p. 146-147):Somente nas condições da economia mercantil é gerada uma forma jurídica abstrata, ou seja, a capacidade de ter um direito em geral separa-se das pretensões jurídicas concretas. Só a transferência constante de direitos, originada no mercado, cria a ideia de um portador imóvel de direitos. No mercado, aquele que obriga, obriga-se simultaneamente a si mesmo. Da condição de parte que demanda, ele, a cada momento, passa para a condição de parte obrigada. Desse modo, cria-se a possibilidade de abstrair-se das distinções concretas entre os sujeitos de direitos e reuni-los em um só conceito genérico.Sob o prisma do sujeito de direito, Pachukanis relocaliza o elemento jurídico de maneira extraordinária, a ponto de habilitá-lo para examinar criticamente não apenas o direito em si, como também a sua relação com certas áreas “fronteiriças”, a exemplo do tema do Estado. Desse modo, foi o jurista russo quem lançou as bases para a recente compreensão do Estado como forma política capitalista, como modelo de dominação de classe peculiar à sociedade burguesa. Isto porque a teoria pachukaniana foi a primeira a problematizar o fato de que, no capitalismo, a dominação política realiza-se por meio de um aparato dotado de traços de impessoalidade, de um ente que se pretende um terceiro garante, um árbitro imparcial devotado ao bem comum. Essa aparência, conforme demonstrou o autor, antes de ser um genial artifício da classe burguesa, é uma determinação histórica que dialoga diretamente com o sujeito de direito, pois tal sujeito, enquanto representação jurídica do indivíduo no mercado, não pode submeter seu semelhante pela força na eventualidade numa lide. Apenas uma instância superior, equidistante aos litigantes – e que reconheça, portanto, a sua igualdade jurídica – pode exercer de maneira centralizada a repressão social.No capítulo derradeiro de A teoria geral do direito e o marxismo, Pachukanis comprova o vigor de sua elaboração ao lidar com um campo do direito no qual, à primeira vista, não caberia falar em determinações de ordem mercantil. Comparando as formas pré-capitalistas de punição com o direito penal da sociedade burguesa, o teórico russo capta uma diferença qualitativa: com o advento do capitalismo, a persecução penal assume feições que são originárias da lei do valor. A punição por meio de uma privação de liberdade por prazo determinado “é a forma específica pela qual o direito penal moderno, ou seja, burguês-capitalista, põe em prática o princípio da retribuição equivalente” (PACHUKANIS, 2017, p. 215). Trata-se aqui do princípio da igualdade jurídica, o qual promove um tempo de purgação de liberdade abstratamente correspondente ao dano praticado e à responsabilidade do réu, o que configura uma referência ao sistema de trabalho abstrato subjacente ao mercado.Entretanto, é seguro dizer que a mais importante reflexão apresentada na obra máxima de Pachukanis é a superação da forma jurídica. Coerentemente com o horizonte da historicidade das formas sociais, o marxista soviético não hesitou em declarar que, seja como decorrência lógica das categorias de análise, seja como necessidade histórica do processo de transição socialista, o direito não pode ter lugar numa formação social que ultrapasse os marcos do capitalismo. A destruição da economia capitalista e de seus elementos ligados ao valor, nessa ordem de considerações, solapa as bases materiais do elemento jurídico. Assim como não poderiam existir formas comunistas de mercadoria, dinheiro, capital e trabalho assalariado, já que tais categorias são, em si mesmas, determinações capitalistas, também não se poderia conceber a presença de um “direito comunista”, e nem mesmo de um “direito socialista”. No período de transição socialista, a tarefa colocada pela revolução proletária não é a construção de um novo edifício jurídico, mas sim a demolição do antigo de acordo com a dinâmica possibilitada pela transformação do modo de produção e a partir de uma organização puramente política e revolucionária, a saber, a ditadura do proletariado.3) Sobre os ensaios escolhidos no período de 1921 a 1929Como visto na seção anterior, o ponto alto da formulação pachukaniana n’A teoria geral do direito e o marxismo é sua teoria da forma jurídica. Durante mais de três décadas, os únicos elementos disponíveis em língua portuguesa para a compreensão dessa formulação eram aqueles trazidos no próprio texto traduzido, primeiro em Portugal nos anos 70 do século XX e, mais tarde, no final da década de 80 do mesmo século, no Brasil. Mais recentemente, o estudo pioneiro de Márcio Bilharinho Naves, Marxismo e direito – um estudo sobre Pachukanis, com acesso a textos russos inéditos em português, trouxe mais algumas luzes ao tema. Mesmo assim, o debate da crítica marxista do direito ainda se ressentia da falta de acesso a outros textos de Pachukanis.Isso explica a imensa importância da publicação, pela primeira vez fora da Rússia e em tradução direta, dos seis ensaios reunidos neste volume, com destaque para a curadoria bastante meticulosa do próprio Márcio Bilharinho Naves, que privilegiou textos ainda não distorcidos pelas autocríticas forçadas que Pachukanis foi obrigado a fazer pelo regime stalinista a partir de 1930. Além da seleção, é relevante também sua disposição no volume, em ordem não cronológica que privilegia o diálogo dos ensaios avulsos com a obra A teoria geral do direito e o marxismo. Esses textos revelam o lugar extremamente importante que a teoria pachukaniana do Estado ocupa na análise da forma jurídica.No primeiro desses ensaios, “Para um exame da literatura sobre a teoria geral do direito e do Estado”, Pachukanis antecipa os principais elementos de sua crítica da forma jurídica ao escrutinar o pensamento de Hans Kelsen. É nele, já em 1923, que Pachukanis constata que “a assim chamada ‘ideia do direito’ nada mais é do que a expressão unilateral e abstrata de uma das relações da sociedade burguesa, a saber, da relação entre proprietários independentes e iguais, uma relação que é a premissa ‘natural’ no ato de troca” (p. 234). A perspicácia de Pachukanis já o leva a intuir que essa ligação levará Kelsen a uma concepção jusnaturalista que nega toda a depuração metodológica inerente ao seu normativismo.Nos outros cinco ensaios, a questão do Estado assume grande relevância. Em três deles, Pachukanis estabelece o diálogo com o publicismo francês, com especial destaque para León Duguit e, principalmente, Maurice Hauriou. Em “Um exame das principais correntes da literatura francesa sobre o direito público”, Pachukanis é muito feliz em apontar as divergências entre Duguit e Hauriou como divergências entre frações da classe burguesa, contrariando aquelas opiniões que viam no solidarismo de Duguit algo próximo do socialismo. A diferença principal, aponta, encontra-se na maior lucidez apresentada por Hauriou em defender sua posição de classe, reafirmando os princípios do individualismo burguês, os quais estão, aliás, na base de sua teoria da forma jurídica. Essa divergência se reflete na teoria do Estado: Duguit, como consequência de seu abandono da concepção subjetivista do Estado e do direito, que o leva até mesmo a recusar o conceito de direito subjetivo, rejeita também o conceito de soberania estatal, apoiando-se em uma concepção de solidariedade de matiz durkheimiana. Sua repreensão por Hauriou e até mesmo as críticas injustas que recebe de positivistas como Berthélemy são, aos olhos de Pachukanis, sintomas de que “à teoria burguesa do direito e do Estado estão vedados os caminhos do desenvolvimento progressivo. Por isso, qualquer tentativa de dar um passo adiante é rapidamente interpretada como a intenção de sair dos limites da sociedade burguesa, ainda que o próprio autor desejasse sinceramente não tanto mover-se, mas ficar parado no mesmo lugar” (p. 248).Por fim, em outros dois ensaios, Pachukanis debruça-se especificamente sobre a questão do Estado soviético, comentando O Estado e a revolução, de Lenin, quando se completavam os dez anos de sua publicação, e abordando a luta contra o burocratismo após a consolidação da tomada do Estado pelos bolcheviques. No primeiro destes dois ensaios, Pachukanis retoma os ensinamentos de Lenin sobre o fenecimento do Estado e sua contraposição tanto ao anarquismo, com sua pretensão de abolição imediata do Estado, e do reformismo kautskista, que pretendia fazer a transição ao socialismo sem a tomada violenta – e consequente destruição – do Estado burguês. Diante do apontamento por Lenin dos quatro pilares que distinguem o Estado-comuna do Estado burguês – “a participação geral das massas na administração (...), a eletividade e a amovibilidade de todos os funcionários públicos” e sua remuneração pelo “salário médio de um operário, a substituição das instituições parlamentares por instituições ‘de trabalho’” – Pachukanis faz uma leitura dura e sincera do Estado soviético, identificando os avanços e sucessos nessa seara. A reflexão é bastante aprofundada no último dos ensaios, na verdade uma transcrição de uma conferência proferida em 5 de abril de 1929 no Instituto de Edificação Soviética, em que Pachukanis debate com outros pensadores soviéticos as causas do burocratismo que assolava o Estado soviético e as possibilidades de luta contra ele.Em síntese, estes são os mais importantes aspectos revelados pela leitura destes ensaios: a unidade do pensamento pachukaniano e a ligação intrínseca entre sua crítica do direito e sua crítica do Estado.REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAPACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). Tradução: Lucas Simone. Coordenação: Marcus Orione. Revisão técnica: Alberto Muñoz, Flávio Roberto Batista, Jorge Souto Maior, Márcio Bilharinho Naves, Marcus Orione, Pablo Biondi. São Paulo: Editora Sundermann, 2017.OS AUTORES:Alberto Muñoz é Doutor em Direito e Filosofia pela USP, Flávio Roberto Batista é Professor Doutor do DTBS/FDUSP, Jorge Souto Maior é Professor Associado do DTBS/FDUSP, Márcio Bilharinho Naves é Professor aposentado do IFCH/UNICAMP, Marcus Orione é Professor Associado do DTBS/FDUSP e Pablo Biondi é Doutor em Direito pela USP.