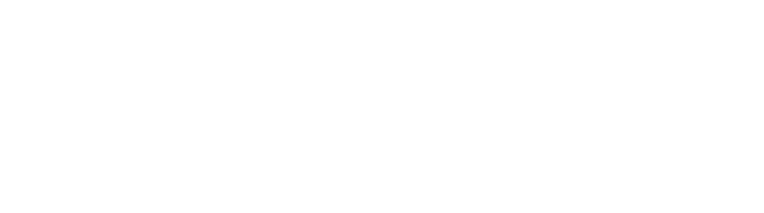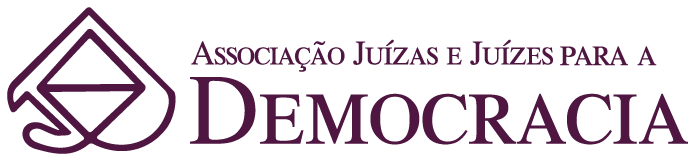A pandemia da Covid-19 gerou várias crises em muitas áreas e as crises, como se sabe, são também momentos de reconstrução. É por isso que se diz que apesar de todo sofrimento vivenciado – e até mesmo por conta dele – se instaurou um ambiente misto de necessidade e de oportunidade para o enfrentamento dos diversos problemas sociais, econômicos e políticos que já experimentávamos e que se evidenciaram com maior precisão no triste momento da pandemia.Em virtude disso, muitas pessoas têm visto com otimismo o futuro pós-pandemia, tomando por pressuposto o fato de que o aprofundamento do sofrimento generalizado tem o potencial de aflorar os melhores sentimentos da condição humana, tais como, a alteridade e a solidariedade. E quando se vê na mídia pessoas e instituições públicas e privadas aplaudindo trabalhadores e trabalhadoras antes invisíveis, reconhecendo a sua importância, pode-se ter mesmo essa sensação de que uma mudança qualitativa esteja ocorrendo.Entretanto, as alterações ou mudanças necessárias para a superação de todos os nossos problemas sociais, econômicos, culturais e relacionais vão muito além de manifestações de exaltação.
É essencial, antes, retomar a consciência, para que se promova um processo consciente de mudança da realidade.A consciência, por sua vez, é resultado do conhecimento e de práticas que lhe sejam correspondentes. Assim, só se produz conhecimento em ambiente abertamente democrático em que se permitam, incentivem e difundam o estudo, a pesquisa, o debate e a reflexão.Ocorre que a conjuntura das relações sociais determinada pela própria pandemia, aliada ao modo de ser social estimulado durante as últimas décadas (e aprofundada no Brasil nos últimos anos), arquitetou um ambiente totalmente contrário à produção e à profusão do conhecimento, dificultando, consequentemente, o tão esperado florescimento da condição humana.Ao longo de décadas fomos forjadxs a admirar o individualismo, a prestar homenagens às denominadas “histórias de sucesso”, tendo por base a competição e a superação do outro, o qual se vê, portanto, como um adversário a ser batido. Essa disputa, que jamais se revelou enquanto tal, mascarada no plano idealizado de uma sociedade de pessoas livres e iguais, nunca foi, de fato, uma competição e muito menos justa, trazendo consigo, inclusive, a violência de negar voz aos “vencidos”.Vivenciamos um processo histórico longínquo de práticas de fuga do conhecimento e de consagração de visualizações parcialmente interessadas da realidade, como fator de legitimação das desigualdades. Foi assim, por exemplo, que se naturalizou a segregação e a violência racial, a opressão de gênero e a exploração do trabalho.Para que se tenha otimismo concreto com relação ao futuro pós-pandemia é essencial passar em revista toda essa história de negação do conhecimento e na qual foram fincadas, solidamente, as bases das nossas desigualdades.Só que é muito difícil cumprir essa tarefa em uma realidade na qual até mesmo o ensino está sendo induzido, sem reflexão, ao processo de virtualização e instrumentalizado para reforçar os interesses econômicos desvinculados de qualquer projeto humano.Não é nada fácil, também, produzir conhecimento em um ambiente no qual as verdades são construídas em mensagens de WhatsApp, a partir de vídeos, notícias e informações maliciosamente construídas.Ademais, é preciso reconhecer que as portas que se abriram estão bem mais acessíveis exatamente àqueles que, historicamente, conceberam e se valeram das distorções culturais, políticas e econômicas para atingirem posições sociais privilegiadas e que, portanto, possuem condições materiais muito mais amplas para reproduzir os seus interesses de forma incessante até que passem a ser concebidos como interesses gerais. E essa observação não é força de expressão, afinal, mesmo diante de uma pandemia o conhecimento técnico especializado tem sido desprezado por muitos sob o argumento, extraído de mera impressão pessoal, de que é melhor se submeter ao risco do adoecimento e da morte do que à crise econômica.Chegamos ao ponto em que o desprezo à ciência e à razão é resultado de uma opção expressamente assumida!De outro lado, malgrado a inquestionável relevância do movimento de doações, o que temos assistido durante a pandemia é uma expressão muito superficial e rarefeita de solidariedade, que não tem servido sequer para melhorar as condições de trabalho daqueles a quem se aplaude pelo serviço essencial prestado.Ao mesmo tempo, impulsionada pela vaidade e sem importar espectro ideológico, assistimos a uma profusão de uma vaidade virtual reprodutora da concorrência e do individualismo meritório que tanto mal fizeram, historicamente, à ação coletiva, à alteridade e à efetiva solidariedade.Não são poucos, igualmente, os oportunismos, mesmo institucionais, que, valendo-se das necessidades impostas pela crise e desprezando os sofrimentos humanos, buscam impor uma política de choque voltada a levar adiante (e de modo duradouro e definitivo) projetos que aumentam a exploração do trabalho, reduzem ainda mais o papel do Estado, promovem evasão de divisas e beneficiam os favorecidos de sempre.Mas, de forma ainda mais evidenciada, assistimos a uma escalada de manifestações de ódio e de perseguições pessoais e talvez isso também possa ser entendido como um efeito das práticas impulsionadas pelas preocupações individualistas e os oportunismos econômicos, que, pautando-se apenas em suas próprias preocupações, acabam abrindo espaço e até se associando, por conveniência ou indiferença, aos incessantes ataques ao conhecimento que se fazem acompanhar de arroubos autoritários.Parece-nos, pois, que estamos vivenciando a formação de um movimento consciente de estímulo à barbárie, o qual se integra, inclusive, a propósitos políticos e econômicos de alguns poucos, aproveitando-se da cegueira de muitos, que se podem visualizar como “algozes inocentes”, mas não tão inocentes assim.Consideramos que todo esse movimento se explica pela soma dos fatores da conjuntura apresentada, a qual, como dissemos, é arredia ao conhecimento e favorável à bestialização.É fácil perceber isso quando os debates, necessários à produção do conhecimento, são completamente interditados nos veículos virtuais, onde, hoje, a comunicação se perfaz.Não há predisposição ao diálogo, à troca de ideias e ao aprendizado e quem pretenda propor algo neste sentido é desprezado ou excluído do grupo.Na disputa de narrativas, nesses veículos de “troca de mensagens”, impõe-se a vontade de quem grita mais, de quem ofende mais, de quem tem mais poder para reproduzir incansavelmente chavões que interditam o debate.Esse padrão de conduta se alastra para as demais esferas das relações sociais. As instituições se hierarquizam numa perspectiva de pessoalidade. O poder se personifica e se potencializa. As instituições, a democracia e a liberdade perecem.Quem ocupa posição formalmente instituída para exercício da função de expressar o poder estatal assume para si o poder e dele se vale para promover ações persecutórias e, assim, interditar o diálogo, o pensamento e a busca democrática pelo conhecimento. A lógica é vigiar e punir, perseguir e calar a todos os que tenham algum conhecimento a expressar.O futuro em elaboração nos remete mais à inquisição do que, como efeito da consciência gerada pela pandemia, a um aprimoramento da condição humana e das suas instituições, tais como a democracia, além das diversas formas concebidas para uma melhor distribuição da riqueza socialmente construída.O resultado dessa situação toda é que muitas pessoas que possuem algo a nos ensinar estão se calando e aceitando, nos diversos planos de atuação da vida social, o processo de destruição que se verifica na democracia, nas relações familiares, na política, no ensino público, nos institutos destinados a maior distribuição da riqueza socialmente produzida, nas formas de proteção do trabalho contra a superexploração, no exercício independente da magistratura e na construção e defesa de direitos sociais e humanos.Mas nossa fala não é sobre pessimismo, pois consideramos que o processo histórico está aberto e está em plena formação.Nossa advertência sobre os diversos riscos que corremos é necessária para que não sejamos enganados pelo otimismo de que os valores emancipatórios e redentores da condição humana emergirão, automática e inevitavelmente, das visualizações promovidas pela pandemia, isto é, que tais sentimentos possam ser desenvolvidos sem que participemos ativamente do processo histórico.Não podemos ficar no plano das abstrações teóricas, quase sempre pessimistas, ou apegados a um otimismo contemplativo.É urgente reconhecer que o futuro pós-pandemia já está sendo construído e que com a disseminação da tática do medo, o ódio e o desprezo ao conhecimento e à razão, dadas as condições postas, tendem a triunfar se nada for feito em sentido contrário, concretamente.Não será possível obstar esse percurso com o silêncio.Se sempre foi uma grande virtude ouvir, chegou a hora de falar.Mas não falemos pensando individualmente. Falemos, sobretudo, pelos interesses de todxs aquelxs cuja voz foi calada de algum modo e, prioritariamente, sempre que tivermos a possibilidade e a oportunidade para tanto, concedamos a fala para essas pessoas, que certamente têm muito a dizer e a ensinar. E saibamos ouvi-lxs, para não reproduzirmos o mesmo processo de silenciamento. Além de apontar as mazelas estruturais, temos também que nos perceber no processo e entender o quanto alguns de nossos atos e algumas de nossas falas, aparentemente inocentes e bem-intencionadas, podem estar carregados de violência e de reafirmação de formas de opressão.Há, portanto, um pressuposto essencial nesta necessária reação, que é o reconhecimento de que a possibilidade de fala se constituiu historicamente em um privilégio social para poucos.Muitas pessoas tradicionalmente excluídas das esferas de deliberação e de definições das políticas públicas e que neste momento se veem ainda mais assoberbadas e consumidas pelo trabalho alienado e invisibilizado, com destaque para a situação das mulheres e, em especial, das mulheres negras, às quais se impôs o trabalho reprodutivo, não encontram tempo livre para se preparar ou mesmo para falar, sendo que, não raro, quando falam não são consideradas, em razão do processo de exclusão e dominação, já mencionado.A visão de mundo e a condição de vida dessas pessoas foi, assim, negada na quase totalidade do conhecimento produzido até aqui, nas diversas áreas, e nenhum projeto de reconstrução da sociedade pode ser levado adiante sem essa constatação e sem o compromisso de sua superação, no sentido de uma efetiva integração.É fundamental, pois, na promoção da necessária reação à escalada do ódio e da barbárie que se deem passos definitivos e básicos (ainda não dados) em direção da efetiva igualdade de gênero e de superação de todas as formas de discriminação, sobretudo as direcionadas às pessoas com deficiência, assim oficialmente entendidas em razão de sua capacidade para o trabalho produtivo, e as movidas em função da idade, por questões raciais, orientação sexual e de etnias.No momento em que é urgente e necessário falar, as mulheres em geral estão sendo (como sempre foram) caladas pela imposição de uma sobrecarga de trabalho integrada pelo trabalho invisível (doméstico e de cuidados) que as coloca, reflexamente, em uma posição de suposta inferioridade e que, também apoiada no processo – cultural, comercial e economicamente impulsionado – de reificação, dominação e submissão, impulsionam a violência doméstica. A propósito, cumpre verificar o quanto a violência contra as mulheres aumentou no ambiente doméstico durante o período do isolamento social, já que nos “lares” se tem reproduzido e retroalimentado toda a lógica de um sistema econômico estruturado nas diversas formas de opressão.Já passou da hora, portanto, de promover, estimular e atuar concretamente (como tarefa e responsabilidade conjunta, não cabendo qualquer tipo de insensibilidade ou argumento fugidio do tipo “não me interesso por política” ou “não me envolvo com essas questões”, até porque depois de todas as revelações possibilitadas pelo modo de viver determinado pelo isolamento social toda e qualquer ação ou omissão é um ato consciente, tem repercussão concreta e, assim, será avaliado) para romper, mesmo em nossas próprias práticas cotidianas, com a divisão sexual do trabalho da forma como se estabeleceu até hoje e com todas as formas de opressão, de desvalorização do trabalho humano, de desconsideração da vida alheia e de discriminação. Como diz Ângela Davis, “Numa sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista”. Da mesma forma, em uma sociedade machista, não basta não ser machista, é preciso ser antimachista. E, ainda, não é suficiente não ser intolerante, é preciso combater a intolerância.Ou seja, é prioridade plena superar todas as formas diretas e insidiosas de manifestação cultural, política e econômica de machismo e de racismo nas quais se estruturou o modo de produção e se desenvolveu o nosso ser social.Reflexão e autocrítica não fazem mal a ninguém e não podemos ter medo da verdade, para que possamos falar com bons, honestos e sinceros argumentos, que, apesar de todas as dificuldades, não podemos nos abster de produzir (ainda que se exija, para isso, a adoção de técnicas e esforços coletivos e colaborativos).E, neste momento, sobretudo, é dever fazê-lo onde quer que essas questões se apresentem, por mais insignificantes que pareçam ser (pois nunca são), e toda vez que o debate, o diálogo e a disputa pela narrativa histórica e a formulação do conhecimento se apresentarem, em qualquer instância ou veículo, ainda que para mera “troca de mensagens”.Não cabe o silêncio diante de expressões de ódio, de intolerância, de discriminação, de preconceito, de arbítrio, de retrocesso social, político, cultural e humano, e de desprezo ao conhecimento e à razão.As esferas dessa disputa estão cada vez mais ampliadas e, portanto, essa tarefa cumpre a cada um de nós, que almejamos, por meio da formulação e da ação coletivas, a construção de um mundo, efetivamente, solidário, humanizado, igualitário, viável para a existência humana digna e plena!São Paulo, 1º de junho de 2020.Artigo publicado originalmente no site Jorge Souto Maior no dia 01 de junho de 2020.* Professor da Faculdade de Direito da USP** Mestra em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP