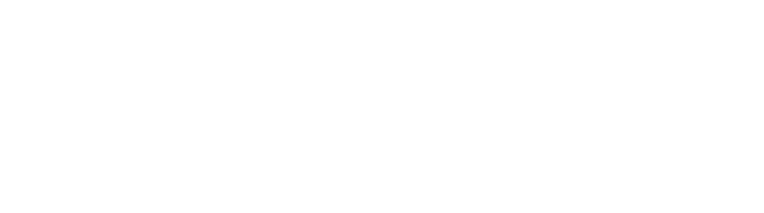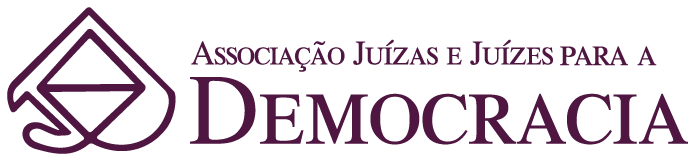O Blog pediu a um grupo de leitores a indicação de magistradas, advogadas, procuradoras, promotoras e defensoras públicas que tiveram papel marcante ao enfrentar o machismo no Judiciário.
A proposta teve origem no episódio em que Mariana Ferrer, vítima de estupro, foi humilhada por um advogado numa audiência em Santa Catarina diante de um juiz e um procurador aparentemente omissos.
O resultado foi a formação de uma lista de 50 nomes. São mulheres que alcançaram postos de comando, ou sofreram e testemunharam discriminações de gênero.
A seleção inclui autoras de obras sobre violência contra a mulher e jovens profissionais que podem relatar o que está mudando nessas instituições. [veja a relação no final deste post]
O machismo é definido como o comportamento que tende a negar à mulher a extensão de prerrogativas ou direitos do homem. É um fenômeno que afeta as mulheres em qualquer atividade. É mais grave no Judiciário pelo poder conferido a seus membros.
“A audiência de Santa Catarina mostra o Judiciário e o sistema de Justiça cruel com as mulheres”, escreveu nas redes sociais a desembargadora aposentada Kenarik Boujikian, do TJ-SP. “Nada do que vimos nesta audiência lembra o papel do Judiciário na perspectiva da construção de um país que tenha a dignidade humana como fundamento”, disse.
Em 2010, Kenarik condenou a 278 anos de prisão o ex-médico Roger Abdelmassih, acusado de estuprar em sua clínica de reprodução 56 mulheres que sonhavam com a maternidade. [A pena foi reduzida depois para 181 anos de prisão, por 48 estupros de 37 de suas pacientes].
Elas sofreram ao ser violentadas, ficaram expostas quando denunciaram os crimes e frustradas ao verem o “serial rapist” fugir da Justiça depois da condenação.
O ministro do STF Gilmar Mendes concedeu liminar para o ex-médico recorrer em liberdade. O advogado Márcio Thomaz Bastos sustentara, entre outras alegações, que o fato de 56 crimes sexuais terem sido narrados como estupro “incendiou a opinião pública”.
“O mundo penal ainda é dos homens”, Kenarik definiu em 2016. A frase ainda é atual. Em várias ocasiões, ela sustentou ter sido alvo de machismo no tribunal paulista.
Em agosto de 2017, o Conselho Nacional de Justiça anulou, por 10 votos a 1, a pena de censura que o Órgão Especial do TJ-SP aplicara a Kenarik, acusada de ter violado o princípio da colegialidade e libertado réus que estavam presos por mais tempo do que a pena fixada.
A polêmica sobre as discriminações no Judiciário ganhou maior evidência com a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2004. Em 2005, um estudo de duas ONGs concluiu que a participação da mulher na Justiça é tanto menor quanto maior é a instância julgadora.
Na primeira sessão como presidente do Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2016, a ministra Cármen Lúcia declarou: “Há sim discriminação contra a mulher, mesmo em casos nossos de juízas, que conseguimos chegar à posição de igualdade”.
Em junho de 2017, o TJ-SP decidiu criar o “Comitê de Gênero”, com o objetivo de “propor e fomentar ações institucionais de sensibilização e capacitação de magistrados acerca da temática de gênero”.
Entrevistas secretas
É possível que algumas mulheres tenham desistido de ser magistradas, mesmo ultrapassando a fase inicial dos exames no TJ-SP, o maior tribunal estadual do país.
Em 2007, o juiz Marcelo Semer, de São Paulo, tratou neste espaço das entrevistas secretas nos concursos de ingresso à magistratura. “Costumeiramente, questões constrangedoras são abordadas, desde sutis indagações acerca da sexualidade de candidatos, até temas que possibilitem o controle ideológico dos pretendentes às vagas de juiz”, afirmou Semer.
Entre as perguntas feitas por desembargadores foi mencionada a seguinte: “Mas a senhora está grávida. Não acha que já começaria a carreira como um estorvo para o Poder Judiciário”?
Não faz muito tempo, a desembargadora Maria Lúcia Pizzotti, que denunciou contratos suspeitos no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi tratada como um estorvo para o Judiciário.
Ela teve a palavra cerceada no Órgão Especial da corte. Quando questionou valores do orçamento, foi interrompida várias vezes. Rindo, desembargadores simulavam confundir o nome da colega com o da ministra Cármen Lúcia, então presidente do STF.
Maria Lúcia diz que sua carreira foi marcada por discriminações. Quando tomou posse como juíza, em 1988, um corregedor-geral explicou por que era contra mulheres na magistratura: “Mulheres servem para cuidar da família, procriar e pilotar o fogão”.
A juíza e escritora Andréa Pachá, do TJ do Rio de Janeiro, diz que “o machismo, quando falamos de um espaço de poder, é mais sutil e só é percebido por aqueles que têm vontade de enxergar. Daí porque a negação insistente não só de homens, mas também de mulheres, de que exista desigualdade na profissão”.
Ainda Pachá: “Uma juíza firme e exigente ser adjetivada como mal-amada não é vista como vítima de machismo. As piadas sexistas são aceitas e desqualificadas como ofensas porque, afinal, brincadeiras não são manifestação de machismo”.
Pachá diz que “a afirmação de que não há machismo na Justiça vem da mesma ideia de que uma mentira repetida muitas vezes vira verdade”.
Em artigo publicado neste Blog, em novembro de 2015, a escritora afirmou: “Fundamental é que sejam expostas as entranhas da chaga que contamina a dignidade e silencia as muitas mulheres que chegam ao Judiciário e que não encontram as portas abertas para que a igualdade não seja apenas um texto formal e constitucional dos nossos direitos”.
Em abril de 2018, a AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), maior entidade de classe da magistratura, teve que tratar publicamente do machismo no Judiciário, tema que os tribunais evitam discutir.
Um grupo de mais de 30 juízas, de vários estados, pediu desfiliação da entidade. Seguiram as juízas Geilza Diniz, Rejane Jungbluth Suxberg e Carla Patrícia Lopes, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), inconformadas com a ausência de magistradas entre os conferencistas do 23º Congresso Brasileiro de Magistrados.
Dos 28 palestrantes do evento, havia apenas duas mulheres, e elas não eram magistradas: a então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e a senadora Ana Amélia (PP-RS).
A juíza-escritora Andréa Pachá também pediu para deixar a entidade. Ela foi vice-presidente da AMB e já assumiu interinamente a presidência da associação.
“Vejo com profunda tristeza a falta de sensibilidade para a importância da pauta da igualdade”, disse Pachá.
Território dos homens
A arquitetura das instalações do Judiciário sugere que aqueles espaços foram originalmente destinados a machos.
O primeiro banheiro feminino no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal só foi construído na gestão da ministra Ellen Gracie, em 2000. É o que revelam os jornalistas Felipe Recondo e Luiz Weber, no livro “Os Onze – O STF, Seus Bastidores e Suas Crises”.
“Ainda hoje, no intervalo das sessões, os ministros desprezam a indicação de gênero na porta e o utilizam também”, afirmam os autores. Ou seja, o machismo permanece naquele espaço que deveria ser privativo das mulheres.
Essa discriminação não ocorria apenas no Judiciário.
A advogada Taís Borja Gasparian lembra que a antiga sede da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) não tinha banheiro feminino no andar da sala do Conselho Diretor. “Eu tinha que pegar um elevador ou descer um lance de escada pra ir ao banheiro”, diz.
Anos atrás, o TJ-SP também não tinha banheiro para mulheres no andar dos julgamentos. “Não é exatamente machismo mas é”, comenta a advogada.
Em 2002, Taís Gasparian foi chefe de gabinete do então ministro da Justiça, Paulo de Tarso Ramos Ribeiro. Ela tinha que usar o banheiro do titular da Pasta. “Não ter banheiro feminino era de fato muito desagradável. Eu me sentia fora do ambiente. As mulheres se sentiam excluídas. O local não era para elas”, diz.
A macheza também se manifesta nas sabatinas do Senado Federal, em meio a bajulações.
Primeira mulher a presidir o STF, a ministra Ellen Gracie ouviu do senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR), durante a sabatina: “Como ginecologista, aprendi a lidar com as mulheres, a entender muito profundamente a sensibilidade feminina”.
Sem levantar a voz, a presidente Ellen Gracie conduziu com serenidade o recebimento da denúncia do mensalão, enquanto os ministros mais exaltados trocavam insultos.
Primeira mulher nomeada para o Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon admitiu, quando foi sabatinada, que os senadores Edison Lobão, Jader Barbalho e Antonio Carlos Magalhães foram padrinhos de sua indicação.
“Se não tivesse [esses padrinhos] não estaria aqui”, respondeu.
Quando foi corregedora nacional de Justiça, Eliana Calmon sofreu forte campanha, instigada por magistrados paulistas, por dizer que havia “bandidos de toga” no Judiciário. Não foi ouvida quando disse que a corrupção atingia uma minoria inexpressiva da magistratura.
Ela foi alvo de queixa-crime oferecida por três associações de magistrados sob a alegação de quebrar sigilos ao investigar patrimônio suspeito de 62 juízes. A PGR arquivou a representação.
Apesar desse histórico, Eliana Calmon disse nunca ter sofrido discriminação no ambiente de trabalho pelo fato de ser mulher. “Essa restrição não vem só dos homens. Vem também das próprias mulheres, que deixam de se candidatar aos cargos de comando”, afirmou Eliana.
Ana Lúcia Amaral, procuradora regional da República aposentada, vai além. “Ao longo da carreira, observei que muitas mulheres são mais machistas que homens. Afinal, machistas são criados por mulheres”, ironiza.
“Penso que o machismo se mostra no número de mulheres nas carreiras jurídicas. Parece que a magistratura nos Estados continua mais fechada”, diz.
Mulheres “poderosas”
Ao lado das procuradoras Janice Ascari, Luíza Frischeisen e Isabel Groba, Ana Lúcia participou, em 2003, da Operação Anaconda, que desmantelou na Justiça Federal em São Paulo uma quadrilha que negociava decisões judiciais, envolvendo magistrados, advogados, policiais federais e até um subprocurador-geral da República.
As procuradoras Maria Luísa Carvalho, Isabel e Janice atuaram no caso do Fórum Trabalhista de São Paulo, que levou à prisão do juiz Nicolau dos Santos Neto, do ex-senador Luiz Estevão de Oliveira e de dois empresários cúmplices. O escândalo do superfaturamento na construção da nova sede do TRT-SP veio à tona em 1998. Elas acompanharam o caso até a decisão em última instância, desmontando chicanas de advogados.
“Alguém comentou que ‘acusação de juiz só com mulheres’”, diz Ana Lúcia.
Na época da Operação Anaconda, o TRF-3 era presidido pela juíza federal Anna Maria Pimentel. A relatora do caso foi a juíza federal Therezinha Cazerta. As duas tiveram papel relevante na tramitação dos inquéritos e da ação penal. (*)
Há manifestações de machismo nas sessões do STF e no CNJ.
No julgamento de um habeas corpus em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski interromperam e questionaram o voto da ministra Rosa Weber.
“Jamais fariam isso com outro ministro”, comentou Maria Berenice Dias, a primeira juíza e desembargadora do TJ-RS. Ela é advogada especializada em direito homoafetivo.
Em agosto de 2016, a então corregedora nacional de Justiça, Nancy Andrighi, encerrou o mandato sem que Lewandowski, então presidente do CNJ, tivesse levado a julgamento cerca de 40 processos que ela tinha deixado prontos para decisão do colegiado.
Nancy Andrighi “abandonou o plenário sem se despedir nem receber a homenagem prevista”, informou o Painel da Folha.
Há dúvidas se Lewandowski faria isso com um corregedor.
Ministério Público desigual
Em junho de 2018, o CNMP concluiu pesquisa que demonstrou a desigualdade de gênero e a baixa representatividade feminina nos postos de decisão do Ministério Público.
“O Ministério Público brasileiro, no geral, é ainda uma instituição machista e desigual”, comentou no Facebook o procurador regional da República Welington Cabral Saraiva.
Segundo a pesquisa, o MP é composto por 7.897 membros do sexo masculino e 5.114 do sexo feminino. Desde a Constituição de 1988, 52 mulheres e 240 homens haviam ocupado cargos de procurador-geral, o que representava cerca de 18% de lideranças femininas versus 82% de lideranças masculinas.
O desequilíbrio é constatado no próprio CNMP: em onze anos de existência, 86 homens exerceram mandatos no conselho, contra 11 mandatos de mulheres.
Nesse período, só uma mulher chefiou a Corregedoria Nacional do Ministério Público.
A procuradora de Justiça Valderez Abbud, do MP-SP, atuou no tribunal do júri de São Paulo no julgamento de três crimes graves cometidos por um juiz e dois membros do MP contra as vidas de suas mulheres: os promotores Igor Ferreira da Silva e João Luiz Portolan Minnicelli Trochmann e o juiz Marco Antonio Tavares.
Igor foi defendido por Márcio Thomaz Bastos no primeiro caso de homicídio julgado pelo Órgão Especial do TJ-SP. Acusado pela morte de Patrícia Aggio Longo e por aborto, foi condenado, por 25 votos a zero, a 16 anos e 8 meses de prisão.
Da Procuradoria do Estado de São Paulo foi indicado para a lista o nome da procuradora Flávia Piovesan, ex-secretária-especial de Direitos Humanos [governo Michel Temer].
Sobre a questão do machismo, em 2016 Flávia Piovesan afirmou que o Brasil tem legislação adequada, mas carrega uma cultura atrasada, pautada no sexismo, que leva à “perversidade de fazer da vítima a culpada”.
A atuação do Ministério Público nos estados varia de acordo com o grau de independência em relação ao Executivo estadual.
Para uma melhor compreensão do que ocorre hoje no Ministério Público (federal e estadual), a subprocuradora-geral da República Luiza Frischeisen sugere conhecer a experiência dos jovens procuradores e promotores.
Ela recomenda ouvir as promotoras que trabalham com violência doméstica. Elas podem revelar pontos de machismo no sistema de justiça. E avaliar em que medida a Lei Maria da Penha criou um ambiente propício para o combate ao machismo.
“As percepções, desafios e atitudes diferem”, diz Frischeisen.
Eis alguns nomes sugeridos pela subprocuradora-geral: Nathalia Mariel, Hayssa Medeiros e Julia Rossi (PR-AM). Valéria Scarance (MP-SP) e Jaceguara Dantas da Silva (MP-MS), e Mônica Nicida (PGR).
Os leitores fizeram especial homenagem in memoriam a três mulheres:
Esther de Figueiredo Ferraz – Ministra da Educação no governo João Figueiredo, foi a primeira mulher a ocupar a Pasta. Enfrentou as resistências por pertencer a um governo da ditadura, mas contou com apoio de vários grupos feministas. Na década de 40, ingressou no ensino superior, rompendo os preconceitos que condenavam as mulheres nas universidades. Foi a primeira reitora da Universidade Mackenzie. Exerceu a advocacia criminal e de família. Em 1951, participou da elaboração de um plano de combate à prostituição e ao lenocínio. Integrou comissão que criou institutos penais agrícolas no estado de São Paulo.
Ada Pellegrini Grinover – Nascida na Itália, foi uma das maiores juristas e processualistas do país. Defendeu a primeira tese oficial de doutorado na Faculdade de Direito da USP. Foi procuradora do Estado de São Paulo. Participou da elaboração do Código Civil, da reforma do Código de Processo Penal e do Código de Defesa do Consumidor. Foi coautora da Lei de Interceptações Telefônicas, da Lei de Ação Civil Pública e da Lei do Mandado de Segurança.
Alexandra Lebelson Szafir – Bacharel em Direito pela USP, era sócia do escritório Toron, Torihara e Szafir Advogados e membro do IBCCRIM – Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Atuou voluntariamente para o IDDD e o Instituto Pro Bono em causas voltadas ao terceiro setor. Um parecer jurídico de sua autoria evitou a transferência de internos da Febem para uma unidade prisional de adultos. Morreu em 2016, aos 50 anos. Lutava contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA) diagnosticada em 2005.
(*) Com acréscimo de informações em 11/11.
* Mulheres que enfrentaram o machismo
Ada Pallegrini Grinover – in memoriam (professora e jurista)
Alexandra Lebelson Szafir – in memoriam (advogada)
Ana Lúcia Amaral (procuradora regional da República aposentada)
Andréa Pachá (juíza do TJ-RJ)
Angélica de Almeida (desembargadora TJ-SP)
Beatriz Stella Azevedo Affonso (advogada)
Carla Patrícia Lopes (juíza do TJDFT)
Cármen Lúcia (ministra do STF)
Claudia Aoun Tannuri (defensora pública)
Consuelo Yoshida (juíza federal do TRF-3)
Eliana Calmon (advogada, ministra aposentada do STJ)
Ellen Gracie (advogada, ministra aposentada do STF)
Esther Figueiredo Ferraz – in memoriam (advogada, ex-ministra da Educação)
Eunice Prudente (advogada, professora)
Flávia Piovesan – (procuradora do Estado)
Geilza Diniz (juíza de direito do TJDFT)
Hayssa Medeiros (procuradora da República)
Isabel Groba Vieira (procuradora da República)
Ivana Farina (conselheira do CNJ, procuradora de Justiça MP-GO)
Ivete Ferreira (advogada e primeira diretora da Faculdade de Direito da USP)
Jaceguara Dantas da Silva (promotora de Justiça, MP-MS)
Janice Ascari (procuradora regional da República)
Julia Rossi de Carvalho Sponchiado (procuradora da República no AM)
Kenarik Boujikian (desembargadora aposentada do TJ-SP)
Laurita Vaz (ministra do STJ)
Ligia Bisogni (desembargadora do TJ-SP)
Liliana Buff de Souza e Silva (advogada, procuradora de Justiça aposentada)
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (subprocuradora-geral da República)
Luzia Galvão (primeira desembargadora do TJ-SP)
Maria Apparecida de Toledo (diretora de cartório)
Maria Berenice Dias (advogada, desembargadora aposentada do TJ-RS)
Maria Lucia Pizzotti (desembargadora do TJ-SP)
Maria Luísa Carvalho (procuradora regional da República)
Maria Tereza Sadek (cientista política)
Maria Thereza de Assis Moura (corregedora nacional de Justiça)
Marisa dos Santos (juíza federal do TRF-3)
Nair Lemos (primeira professora titular de direito da USP)
Nancy Andrighi (ministra do STJ, ex-corregedora nacional de Justiça)
Nathalia Mariel (procuradora da República)
Raquel Dodge (ex-procuradora geral da República)
Rejane Jungbluth Suxberg (juíza do TJDFT)
Rosa Maria Andrade Nery (jurista, desembargadora aposentada)
Rosa Maria Cardoso da Cunha (jurista)
Rosana Chiavassa (advogada)
Silvia Pimentel (professora da Faculdade de Direito da PUC-SP)
Taís Borja Gasparian (advogada)
Tatiane Moreira Lima (juíza do TJ-SP)
Tereza Exner (procuradora de Justiça do MP-SP)
Therezinha Cazerta (ex-presidente do TRF-3)
Valéria Scarance (promotora de Justiça do MP-SP)
Artigo publicado originalmente no site Folha de São Paulo no dia 10 de novembro de 2020.